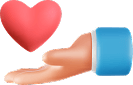José D'Assunção Barros
A História precisa ser abrangente em termos das demandas sociais a que atende e da diversidade de pontos de vista que ela pode expressar. Ao sustentarmos que “a História é Polifônica” , podemos reconhecer que cada voz social tem o direito de contar a sua história, isto é, de expor em linguagem historiográfica o seu ponto de vista. Haveria uma História a ser narrada por cada grupo social, por cada minoria, por cada gênero, por cada identidade que precisa se afirmar social ou culturalmente.
Multiplicar as vozes historiadoras é uma tarefa para as novas gerações que buscam uma historiografia inclusiva, e por isso é importante atrair para os cursos de graduação em História uma variedade grande de sujeitos sociais. No conjunto de trabalhos produzidos em um mundo ideal no qual todos tivessem a sua voz historiográfica, chegaríamos a uma razoável “polifonia de Histórias”. Seria possível alcançar uma desejada abrangência autoral através da montagem e congregação de diversas narrativas e análises – as quais, no fim das contas, terminariam por dialogar entre si de uma maneira ou de outra, como deve ocorrer com toda autêntica polifonia.
[extraído de 'Seis Desafios para a Historiografia no Novo Milênio'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019].
A experimentação voltada para a apreensão polifônica do mundo histórico apresenta-se como uma das muitas tarefas da historiografia do novo milênio. Não basta ao historiador reconhecer no mundo histórico os seus diversos personagens, portadores de singularidades e de posições ideológicas independentes, se, ao final da construção narrativa do historiador, estes personagens terminam por produzir, no seu conjunto de interações contraditórias, apenas uma única ideologia dominante. É preciso explorar alternativas para além deste padrão narrativo mais habitual no qual os historiadores, ainda que acostumados a administrar nos seus textos as diversas vozes sociais, nem sempre se empenham em transcender um modelo de escrita monódica no qual, no fim das contas, apenas uma única voz faz-se ouvir. Para que possa se realizar, a escrita polifônica precisa ser por um lado desejada (já que nem todos estão dispostos a abrir mão de um pensamento único). Por outro lado, o escrever polifônico também precisa ser aprendido. Podemos nos perguntar, mais uma vez, se a formação básica do historiador tem lhe proporcionado este aprendizado,
[extraído de 'Seis Desafios para a Historiografia no Novo Milênio'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019].
Falar em uma historiografia que seja cada vez mais abrangente – entenda-se: mais representativa ou mais inclusiva em relação a todas as possibilidades que possam interessar à sociedade – implica pelo menos três patamares de reflexão. Afinal, quando se quer saber algo sobre a abrangência de um campo de saber, podemos situar essa abrangência diante das seguintes questões fundamentais: (1) “Do que se fala”? (2) “Quem Fala”? (3) A quem se fala”?
Estas três perguntas fundamentais dirigem-se à compreensão, respectivamente, de três fatores que, de um modo ou de outro, estão sempre em permanente interação. São eles a ‘abrangência de temas’ (aquilo que o campo de saber estuda ou o seu universo de práticas); a ‘abrangência de autores’ (aqueles que se expressam através do campo, ou mesmo os que se acham diretamente representados pelos autores propriamente ditos); e, por fim, a ‘abrangência de públicos’ (aqueles a quem a mensagem é dirigida, ou que consumirão o conhecimento produzido pelo campo);
[extraído de 'Seis Desafios para a Historiografia do Novo Milênio'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019].
[O TEMPO DOS HISTORIADORES E O TEMPO DO CALENDÁRIO]
Um sinal evidente da necessidade de diferenciar enfaticamente o tempo cronológico e o tempo da história é a não-coincidência entre os séculos dos historiadores e os séculos da cronologia, estes últimos contados de cem em cem anos. A proposta historiográfica que encontra mais respaldo entre os historiadores atuais, por exemplo, atribui novos limites ao século “XX”, que não os do calendário secular tradicional. Ao invés de começar em 1901, o “século XX dos historiadores” inicia-se em 1914 – data de eclosão da primeira das duas grandes guerras mundiais, as quais encaminham a devastadora crise dos imperialismos europeus e preparam todo o contexto da Guerra Fria e do estabelecimento de uma política internacional bipolarizada entre os Estados Unidos e a URSS. Este mesmo século que começou um pouco mais tarde termina um pouco mais cedo, em 1989 ou 1991, conforme se queira – já que estas são as datas, respectivamente, da queda do Muro de Berlim e da desagregação da União Soviética, encerrando o período de bipolarização política. Ao mesmo tempo, os anos 1990 já introduzem uma verdadeira reconfiguração tecnológica. Por isso, o historiador Eric Hobsbawm subtitulou seu livro sobre o século passado (a Era dos Extremos, 1994) como “o breve século XX”.
De igual maneira, os limites entre duas “eras” são sempre móveis, de acordo com a análise de cada historiador. Quando se encerra a Antiguidade Romana? Com o saque de Roma em 410, com a invasão vândala em 455, ou com a deposição de Rômulo Augusto em 476? Ou, mesmo antes, será que não devemos considerar, para finalidades de datação do fim da era antiga, a vitória devastadora dos godos sobre as legiões romanas em 378 d.C? Ou talvez, quem sabe, rejeitando todas estas datas pontuais, o fim da antiguidade não será melhor assinalado pelo novo papel que passa a desempenhar o Cristianismo nas sociedades agrupadas sob a égide do Império Romano? Os tempos dos historiadores, enfim, não precisam fazer nenhuma concessão, se não quiserem, aos limites bem arrumadinhos dos séculos cronológicos.
[extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 2013p.26].
A primeira noção à qual precisamos dar forma de modo a refletir sobre o Tempo Histórico é a de que este é um tempo necessariamente humano. O tempo dos historiadores refere-se essencialmente à existência dos homens. O que de fato interessa a um historiador é a passagem do homem sobre a Terra, o que inclui tudo aquilo que, tocado pelo homem, transformou-se, e também aquilo que, vindo de fora, transformou a vida humana. As modificações na vida humana ao longo dos séculos, o confronto entre diversas sociedades, as múltiplas maneiras como se desenvolveu o poder no decorrer da existência das sociedades humanas, o surgimento e a elaboração da cultura, a luta pela sobrevivência com a concomitante edificação de um sistema de práticas que podem ser consideradas como a base da economia, o surgimento e desenvolvimento das mais diversas formas de expressão e criação, as mudanças nos modos de pensar e de sentir ao longo dos séculos, tudo isto, e também as interferências impostas pelos homens no seu meio ambiente, constituem objetos de interesse dos historiadores, sempre considerados sob a perspectiva de suas transformações e permanências no tempo.
O tempo dos historiadores, portanto, é sempre um tempo humano. Ele não é o tempo dos físicos ou dos astrônomos. Tampouco é o tempo dos calendários ou da mera cronologia, ainda que destes modos de situar o tempo objetivamente o historiador precise se valer no decorrer de suas narrativas e análises historiográficas. Ao lado disto, um físico ou um astrônomo que observam os fenômenos celestes, materiais ou geológicos também podem pensar historicamente; mas não se trata aqui, obviamente, da mesma história dos historiadores.
[trecho extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 212, p.20-21].
[O TEMPO DOS HISTORIADORES]
O tempo dos historiadores ordena (define origens para os processos que examina, atribui-lhes um sentido). Nesta operação, é já também um tempo 'territorializado'. Ao definir sentidos e criar significados para os períodos de tempo que examina, os historiadores exercem poderes de diversos tipos (ou tornam-se instrumentos para o exercício destes poderes).
A demarcação das diversas épocas constitui um dos sinais mais visíveis desta territorialização do tempo pelos historiadores. Estão sempre abertos os limites entre os grandes recortes que são habitualmente denominados de “eras”, “idades”, ou outras designações mais amplas. Quando termina a Antiguidade, e quando começa a Idade Média? Em que momentos(s) esta última já começa a se transformar em uma Idade Moderna? Como denominar cada um destes períodos? Como lidar com recortes e designações que foram herdados de uma cultura histórica que já não é mais necessariamente a nossa, mas às quais já estamos demasiadamente habituados? Quais os limites destas escolhas de recortes no tempo, e quais são os seus potenciais de convencimento como períodos ou épocas que podem ser propostos para serem instrumentalizados, para questões mais gerais, por todos os historiadores?
Delimitar um grande período historiográfico no tempo, separando-o de outro que se estende atrás dele e de outro que começa depois, é uma operação que traz marcas ideológicas e culturais que nos falam da sociedade na qual está mergulhado o historiador, dos seus diálogos intertextuais, de visões de mundo que de resto vão muito além do próprio historiador que está estabelecendo seus recortes para a compreensão da História. Os próprios desenvolvimentos da historiografia – os novos campos históricos e domínios que surgem, a emergência de novas relações interdisciplinares, os enfoques e abordagens que se sucedem como novidades ou como reapropriação de antigas metodologias – trazem obviamente uma contribuição importante para que a cada vez se veja o problema da passagem de um a outro período histórico sob novos prismas. Ademais, é preciso lembrar que, ao se trabalhar sobre um determinado problema histórico, específico de uma certa pesquisa, essas grandes balizas já nem sempre serão úteis para o historiador. Pensar um problema histórico já é propor novos recortes no tempo.
[extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p.27-28].
[TEMPORALIDADE - 1]
“Temporalizar” (estabelecer temporalidades) é de certa maneira territorializar o tempo, tomar posse do devir aparentemente indiferenciado, percebê-lo simbolicamente – operacionalizá-lo, enfim. As temporalidades definidas pelos historiadores, é evidente, não existem por si mesmas, e nem os seus limites são dados de uma vez por todas. Onde termina, de acordo com a historiografia, a Antiguidade? E quando começa a Idade Média? Quando, mais precisamente, tem-se a passagem para a Modernidade? Vivemos nos dias de hoje, no seio de uma nova época que já deveria ser definida como uma nova temporalidade pelos historiadores futuros? De igual maneira, estas palavras que são tão familiares ao vocabulário cotidiano – Passado, Presente, Futuro – o que significam propriamente? Como administrar a fugaz relação entre estas três instâncias temporais cuja evocação é tão inevitável na vida comum, mas que se torna ambígua no mesmo instante em que cada momento presente mais do que rapidamente se transforma em Passado, para ser imediatamente seguido pelo momento que no segundo anterior se situava no Futuro, e que também mergulha no seu inexorável destino de ser igualmente engolido pelo eterno abismo do tempo?
Mesmo no interior de uma única sociedade sujeita ao devir histórico, os modos de perceber a relação entre Passado, Presente e Futuro diversificam-se.
[extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p.33].
“Temporalidade” é o primeiro conceito importante para a reflexão historiográfica no que concerne às relações entre Tempo e História. Entramos no âmbito conceitual da “temporalidade”, e abandonamos o sempre vasto e enigmático universo das polêmicas sobre o Tempo [no sentido mais propriamente físico], quando começamos a examinar as instâncias humanas, psicológicas e políticas que foram ou são agregadas às sensações e percepções que se dão em torno da passagem do tempo, ou ainda em torno das alteridades geradas pela comparação entre períodos distintos da história humana ou mesmo da vida individual. Assim, por exemplo, quando os historiadores começam a singularizar e a partilhar o devir histórico em unidades mais operacionais e compreensíveis – como a Antiguidade, Medievalidade, Modernidade, Contemporaneidade – estamos já diante de temporalidades históricas. Temos aqui algo similar ao que se dá com o espaço, sobre o qual o pensamento histórico ou geográfico pode pensar unidades de compreensão como a América, Ásia, África, e também espacialidades regionais, espacialidades climático-naturais, ou mesmo espacialidades culturais mais amplas que correspondem a civilizações.
[extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p.32].
Os historiadores mais tradicionais nos seus modos de escrever a história costumam se esquecer de que, ao elaborar o seu texto, eles mesmos são ou deveriam ser os ‘senhores do tempo’ – isto é, do seu ‘tempo narrativo’ – e de que não precisam se prender à linearidade cronológica e à fixidez progressiva ao ocuparem o lugar de narradores de uma história ou ao se converterem naqueles que descrevem um processo histórico. Se o texto historiográfico é como que um mundo regido pelo historiador, por que não investir no domínio de novas formas de dizer o tempo? Por que tratar o tempo sempre da mesma maneira, banal e estereotipada, como se estivéssemos tão presos a este tempo quanto os próprios personagens da trama histórica que descrevemos, ou como se fôssemos mais as vítimas do discurso do que os seus próprios criadores? Indagações como estas, naturalmente, implicam em considerar que a feitura do texto historiográfico se inscreve em um ato criativo destinado a produzir novas leituras do mundo, e não em um ato burocrático destinado a produzir um relatório padronizado que pretensamente descreveria uma realidade objetiva independente do autor do texto e de seus leitores.
O moderno romance do século XX em diante, na sua incessante busca por novos modos de expressão e de apresentação do texto literário, e também o Cinema desde os seus primórdios, já acenaram há muito com uma riqueza de possibilidades narrativas que não parecem ter sido assimiladas por uma historiografia que, pelo menos neste aspecto, é ainda demasiado tradicional. Acompanhar este movimento iniciado no âmbito da literatura do último século, mas também no campo do cinema e das artes em geral – e podemos lembrar aqui, adicionalmente, as experiências cubistas de representação de diversos momentos de uma mesma figura na simultaneidade de um único quadro – poderia contribuir para enriquecer significativamente o discurso historiográfico, ajudando-o a romper os tabus e as restrições que têm limitado a historiografia profissional enquanto uma disciplina que acaba reproduzindo os mesmos padrões, mesmo que nem sempre adequados aos novos objetos e abordagens já conquistados pelos historiadores.
Romper os padrões habituais de representação do tempo, como ousaram fazer os grandes romancistas, artistas e cineastas modernos, implicaria em inventar novos recursos discursivos no que se refere ao tratamento da temporalidade no âmbito da historiografia, com possibilidades regressivas, alternâncias diversas, descrições simultâneas, avanços e recuos, tempos psicológicos a partir dos vários agentes – ou o que quer que permita novas maneiras de representar o passado, mais ou menos na mesma linha de ousadias e novidades que os romancistas modernos encontraram para pôr em enredo as suas estórias de uma maneira mais rica e criativa.
[extraído de 'O Tempo dos Historiadores'. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p.250-251].
O MU(R)RO
O Murro
Derrubou o Muro.
Foi tão forte o choque,
Que perdeu seu “erre”.
E por isso o Murro
Virou um Muro
Como é insano esse mundo burro!
Como se tal vexame já não fosse tanto
Eis que, já tudo assentado,
Chega um outro murro
Para derrubar o muro
– Para perder seu “erre”
Para virar um muro...
[poema publicado na revista Abatirá, vol.2, nº3, 2021]
https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira/article/view/10249
[JORNAIS, DO PONTO DE VISTA DOS HISTORIADORES]
Em uma busca de definir e delinear as características dos jornais com vistas ao seu potencial como fontes históricas, frequentemente podemos nos deparar com a referência de que estes tipos clássicos de periódicos constituem um ‘meio de informação’, o que não deixa de ser também verdade. Todavia, a face ‘meio de comunicação’ costuma se sobrepor, nos jornais dos tempos contemporâneos, à face ‘meio de informação’, principalmente aos olhos dos historiadores e sociólogos. Isto ocorre porque os jornais não transmitem apenas informações. Eles também comunicam ideias e valores, e através destas ideias e valores buscam agir sobre a sociedade, além de representarem certos interesses políticos, sociais, culturais e econômicos – não necessariamente um único setor de interesses, mas sim um campo de interesses no interior do qual diversos fatores interagem.
O fato de ser um ‘meio de comunicação’ interfere na função jornalística de se propor a ser um ‘meio de informação’, e este aspecto precisa ter uma centralidade na análise dos historiadores. A informação transmitida pelos jornais mescla-se com a elaboração de um discurso, com a comunicação de valores e ideias, com os projetos de agir sobre a sociedade, com a necessidade de interagir com fatores políticos e econômicos.
[extraído de 'Fontes Históricas - introdução aos seus usos historiográficos'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019, p.183].
[OS JORNAIS DO PONTO DE VISTA DOS HISTORIADORES - 2]
O fato de que os jornais, na era industrial contemporânea, dirigem-se a um universo amplo e diversificado de leitores também os distingue de outras fontes que podem ser constituídas pelos historiadores. Em uma carta privada, por exemplo, temos um único autor que se dirige a um único leitor. E em um diário temos um autor que se dirige a si mesmo. Mas nos jornais temos um certo número de autores que se dirigem a muitos e muitos leitores. Mesmo que haja em cada grande jornal uma bem definida linha editorial que busca constituir uma identidade e congregar autores parecidos em alguns aspectos, não é possível desprezar o fato de que, por trás de cada jornal, existe uma pequena diversidade de homens e mulheres que lhe dão vida - tanto do ponto de vista de produtores de conteúdos e discursos, como do ponto de vista de receptores e consumidores destes mesmos conteúdos.
Este aspecto, que ajuda a definir o jornal como uma ‘produção multi-autoral’ – ainda que nem todos os autores dos textos jornalísticos sejam nomeados – faz dos jornais modernos um tipo de fontes nas quais a regra é a alternância de muitas vozes e diferentes agentes discursivos. Assim, um determinado jornal pode responder por um único nome – O Jornal do Brasil, The Times ou Le Monde – e em torno deste nome pode-se apresentar uma certa identidade e estilo dominante, ou predominar uma tendência menos ou mais bem definida de posicionamentos políticos; mas cada nova edição deste jornal abriga de fato uma diversidade considerável de autores, ocultos ou não. Lidar com uma fonte multi-autoral, como no caso dos jornais diários, é diferente de lidar com uma fonte mono-autoral, como a correspondência, a obra literária ou o relatório administrativo
[extraído de 'Fontes Históricas - introdução aos seus usos historiográficos'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019, p.184].
[FONTES DIALÓGICAS]
Entenderemos como ‘fontes dialógicas’ àquelas que envolvem, ou circunscrevem dentro de si, vozes sociais diversas capazes de dialogar e de se confrontar na própria trama discursiva da fonte. Podemos chamá-las também de ‘fontes polifônicas”, considerando que a sua principal característica é a presença marcante destas vozes internas que encontram expressão na trama textual e terminam por dialogar, confrontar-se ou interagir umas com as outras de várias maneiras. As “vozes” podem ser falas de indivíduos, presenças no texto de distintos representantes culturais, confrontos de forças políticas que encontram um espaço de disputa através do discurso (ainda que de maneira encoberta), culturas ou civilizações que se contrapõem, classes sociais que se embatem através de contradições interindividuais ou outras, gerações que se contrastam, narrativas que se entrelaçam, e assim por diante.
Para entendermos com maior plenitude porque as fontes que se enquadram nesta megacategoria podem ser compreendidas como 'dialógicas' ou 'polifônicas', o primeiro passo é entendermos mais claramente o que é “polifonia”. Busquemos o sentido para este conceito no ambiente original ao qual ele pertence, antes de se ter espraiado para outros campos de saber. Na Música, campo de expressão artística e de saber de onde a expressão “polifonia” foi importada – primeiro para a Linguística, depois para a História – a textura polifônica corresponde àquela modalidade de música na qual podemos ouvir claramente, com protagonismo musical próprio em cada uma delas, distintas vozes melódicas que interagem umas com as outras
Pensemos, por exemplo, na música de Johann Sebastian Bach (1685-1750), ou nos quartetos de Jazz nos quais cada instrumento conduz sua voz com uma mesma importância na trama melódica. Esta modalidade de música desenvolve-se de maneira distinta em relação ao que ocorre naquelas canções mais singelas – para as quais podemos encontrar uma infinidade de exemplos na música popular – em que existe apenas uma melodia principal que recebe o apoio harmônico de outros instrumentos, mas sem que estes tenham uma importância maior no que concerne à condução mais propriamente melódica do discurso musical. Este segundo padrão, baseado em uma melodia única que é apoiada por uma harmonia de acordes que fornecem o clima e o jogo de tensões e relaxamentos da música, é chamado de “homofonia”, constituindo um modo de expressão musical bem diferente da polifonia.
Destes dois padrões musicais muito comuns em uma variedade de gêneros musicais, a polifonia apresenta uma sintonia com os tipos de fontes que podemos denominar 'dialógicas' ou 'polifônicas'. Fontes textuais como os jornais - com a sua configuração multiautoral de textos que compartilham o mesmo veículo e frequentemente a mesma página de jornal - ou como os processos criminais, que trazem nas suas estruturas textuais uma multiplicidade de depoimentos de natureza distinta que representam diferentes posições sociais e que situam seus autores em distintas circunstâncias jurídicas, são tipicamente polifônicos. Os historiadores precisam compreender claramente as diferentes vozes que circulam nestas e em outros tipos de fontes polifônicas, decifrando suas posições, seus espaços de confronto, suas tensões mútuas, suas assimetrias, a diversidade social e cultural que transparece estes discursos no interior de um discurso maior.
[extraído de 'Fontes Históricas - introdução aos seus usos historiográficos'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019, p.280-281].
[RELATOS DE VIAGEM COMO FONTES POLIFÔNICAS]
A polifonia implícita de algumas fontes historiográficas pode ser exemplificado pelos relatos de viagem – como aqueles que foram produzidos desde o início da modernidade por viajantes europeus que estiveram na América, Ásia e África, e que, assim, registraram suas impressões sobre os novos mundos culturais, sociais e ambientais com os quais estavam se defrontando nas suas viagens pelos novos mundos e oceanos. Neste tipo de textos que são os relatos de viagem, existem claramente duas ou mais culturas em confronto. Há o olhar cultural trazido pelo viajante que registra o relato, mas há também a cultura que é percebida e registrada, e que termina por encontrar sua própria voz através do discurso do viajante, embora nem sempre sendo compreendida pelo mesmo e, via de regra, gerando contradições e interações, estranhamentos e deslumbramentos.
Retenhamos em mente o exemplo do explorador europeu do século XIX que visita tribos indígenas com padrões culturais bem distintos dos seus e procura registrá-los, às vezes utilizando seus próprios filtros e adaptações, empenhando-se sempre em encontrar na sua própria língua e dialetos sociais conhecidos as palavras que poderão expressar de maneira adequada ou aproximada aquelas realidades para ele tão desconhecidas. Posto isto, apesar das dificuldades e estranhamentos que podem ocorrer ao se falar sobre um “outro”, há uma cultura que consegue se expressar através da outra na dialética estabelecida pelo viajante que relata e pela cultura e população que é retratada. A polifonia, neste caso, dá-se de alguma maneira por camadas, ou ao menos através de rugosidades, pois o relato cultural produzido por um certo sujeito histórico-social recobre uma outra cultura, para a qual ele abre espaço através do seu próprio relato.
[extraído de 'Fontes Históricas - introdução aos seus usos historiográficos'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019, p.285].
[RELATOS DE VIAGEM COMO FONTES DE POLIFONIA IMPLÍCITA]
A polifonia explícita, nas fontes históricas, é bem perceptível já a uma primeira leitura, a exemplo dos jornais e processos criminais, que costumam segregar os diferentes discursos e vozes sociais em espaços bem definidos no interior da configuração textual maior que é o jornal ou o processo que está sendo examinado. O olhar historiográfico, mesmo inexperiente, facilmente percebe cada voz em um território próprio e bem definido, onde as vozes dialogam mas sem se misturar ou se emaranhar umas com as outras.
Mas a polifonia implícita requer maior experiência historiográfica para ser decifrada. Pensemos aqui nestes tipos de fontes dialógicas que se expressam através das camadas de alteridade, como é o caso daquelas nas quais um determinado agente histórico ocupou-se de pôr por escrito as falas, as ações e os comportamentos de outros, muitas vezes em discurso indireto ou através de uma fala encoberta. Essas são dialógicas não apenas porque são várias estas “falas de outros”, mas também porque o mediador, o compilador da fonte ou o agente discursivo que elabora um texto sobre o texto, representa ele mesmo também uma voz – quando não um complexo de várias vozes, já que através do mediador pode estar falando também uma instituição, uma prática estabelecida, uma comunidade profissional - uma cultura! -, para além de sua própria fala pessoal.
Os relatos de viagem, que podem ser indicados como um bom exemplar do dialogismo implícito, podem constituir um exemplo mais do que oportuno. Pensemos naqueles viajantes europeus que estiveram percorrendo a África, a América do Sul e particularmente o Brasil – considerando que isso atendia a uma nova moda romântica bastante em voga no século XIX. Estes viajantes entram em contato com culturas que lhes são totalmente estranhas, e fazem um esforço sincero de compreender e transmitir a um leitor – que eles idealizam sentado confortavelmente em uma residência europeia – as estranhezas que presenciaram, as aventuras e desafios que tiveram de enfrentar por serem europeus aventureiros em terras tropicais que consideravam exóticas e selvagens, bem como os desconfortos e inadequações que tiveram de enfrentar nas cidades rústicas, habitadas por novos tipos sociais tão desconhecidos para eles como para seus leitores.
Marco Pólo (1254-1324), com o seu célebre Livro das Maravilhas, ditado e publicado nos últimos anos do século XIII quando esteve encarcerado em uma prisão genovesa, já trazia à literatura medieval um protótipo para os relatos de viagens que seriam tão comuns no período moderno. Seu livro apresentava uma narrativa na qual era descortinada, aos seus leitores dos vários países europeus, um mundo completamente distinto de tudo o que eles até então haviam visto. A China e outras terras do oriente surgem nos seus relatos com toda a sua imponência dialógica, beneficiando os europeus de sua época de um choque de alteridade que mais tarde lhes seria útil, quando quiseram submeter as populações incas e astecas nas Américas do século XVI.
Por outro lado, mais uma vez surgem os dialogismos na própria constituição primordial do Livro das Maravilhas, uma vez que Marco Pólo ditou seus relatos para seu colega de cela, o romancista Rustichello da Pisa. Este não hesitou em acrescentar ao manuscrito os relatos oriundos de suas próprias viagens e casos que ouvira de outros viajantes, de maneira que no próprio polo autoral já surgem vozes que não apenas a de seu autor central. O dialogismo, por outro lado, dá-se não apenas por causa desta peculiaridade, mas principalmente em decorrência do confronto que se estabelece entre duas grandes civilizações. Falar sobre o outro pode, de algum modo, dar voz ao outro. No caso, a 'voz do outro' emerge, aqui, por dentro de uma música que a encobre, como se estivéssemos escutando uma das suítes para violoncelo de Johan Sebastian Bach para este instrumento cuja prática é deixar que soe uma nota de cada vez - uma nota depois da outra - mas que nas mãos de Bach parece nos fazer escutar ao mesmo tempo muitas vozes no interior da música que a recobre. Nos relatos de viagem também escutamos diferentes vozes por dentro da voz do viajante: vozes que emergem quando menos se espera, que se emaranham no discurso do autor, que se infiltram nas suas rugosidades.
[texto extraído de 'Fontes Históricas - introdução aos seus usos historiográficos'. Petrópolis: Editora Vozes, 2019, p.295-297].
PEQUENAS COISAS
Não há nada Maior
Do que as pequenas coisas
Um sorriso de mulher escapou dos lábios!
Deslizou suave, entre o medo e o desprezo,
Dando esperanças ao galanteador barato
O café escorreu quente e saboroso
Ao abrigo da chuva torrencial
Como se fosse o último dia, do último dos planetas
A piada velha, que há muito já não se ouvia,
Soou como nova ao som dos violinos
E provocou risos honestos
Tudo isso: cada pequena coisa
Grita que não há nada maior neste mundo
Sob este sol, ou abaixo de qualquer lua
Sim... Não há nada maior
Do que cada pequenina coisa
Celebrações
e pomposos prêmios?
Medalhas de brilho inútil
Ao abrigo das grandes causas?
O tal carro magnífico que transpôs
A festejada e ruidosa linha de chegada?
A ovacionada atriz que distribuía autógrafos?
A mansão comprada, após a venda de muitas almas?
Tudo isso, e todas as coisas “grandes”
Nada significa... E de sua parte
Não há nada maior
Do que o sabor,
Único
E sincero,
Das pequeninas coisas
São elas por quem perguntarão as vozes
Que curiosas te esperam, ao final da vida:
Onde estão elas – as preciosas pequenas coisas?
Onde estão as memórias saborosas, que são só suas?
Tuas medalhas vão para a corrosão da ferrugem
Tuas mansões vão para o lixo dos herdeiros
Mas... onde estão tuas pequenas coisas?
Pobre alma, a que não as tem...
[poema publicado na revista Nós, vol.6, nº2, 2021].
[OS TRÊS CRITÉRIOS QUE GERAM AS DIFERENTES MODALIDADES HISTORIOGRÁFICAS]
A historiografia, nos dias de hoje - e, na verdade, já desde o trânsito para o século XX - é dividida em um vasto oceano de diferentes modalidades historiográficas. Quando comecei a estudar este assunto tão caro à compreensão das identidades historiográficas no mundo contemporâneo, interessei-me por compreender quais seriam os diferentes critérios que presidiam à formação destas inúmeras modalidades historiográficas de acordo com as quais os historiadores de hoje se organizam e reconhecem suas identidades. Não queria apenas contastar que as modalidades historiográficas se multiplicaram na passagem para o século XX - e nem tampouco queria me limitar a participar de alguma coletânea de muitos autores, onde cada um deles apenas discorria sobre certa modalidade historiográfica ou domínio da história sem considerá-lo no interior de um sistema historiográfico mais amplo. Queria compreender os diferentes critérios que regiam essa diversificação interna na nossa ciência histórica. O O quadro ao qual cheguei’ foi elaborado com o intuito de organizar estes critérios, e cheguei a um sistema tripartido em ‘dimensões’, ‘abordagens’ e ‘domínios temáticos’ da História – uma tríade que buscavaesclarecer as várias divisões que estes critérios podem gerar, terminando por constituir o diversificado planeta historiográfico com o qual os historiadores lidam nos dias de hoje para a organização de suas identidades. De certo modo, as três ordens de critérios correspondem a divisões da História respectivamente relacionadas a “enfoques”, “métodos” e “temas”. Uma dimensão implica um tipo de enfoque ou um ‘modo de ver’ (algo que se pretende enxergar em primeiro plano na observação de uma sociedade historicamente localizada); uma abordagem implica um ‘modo de fazer a história’ a partir dos materiais com os quais deve trabalhar o historiador (determinadas fontes, certos métodos, e determinados campos de observação); um domínio temáticocorresponde a uma escolha mais específica, orientada em relação a determinados sujeitos ou objetos para os quais será dirigida a atenção do historiador (campos temáticos como o da ‘história das mulheres’ ou da ‘história do Direito’). Esta tríade de critérios - as dimensões, abordagens e domínios temáticos - permite compreender satisfatoriamente a formação e permanência de um vasto universo de diferentes modalidades historiográficas desde o último século
[extraído do livro 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, 2004].
[OS CAMPOS HISTÓRICOS NÃO EXISTEM ISOLADAMENTE]
Apesar de falarmos freqüentemente em uma “História Econômica”, em uma “História Política”, em uma “História Cultural”, e assim por diante, a verdade é que não existem fatos ou processos que sejam exclusivamente econômicos, políticos ou culturais. Todas as dimensões da realidade social interagem, ou rigorosamente sequer existem como dimensões separadas. Mas o ser humano, em sua ânsia de melhor compreender o mundo, acaba sendo obrigado a proceder a recortes e a operações simplificadoras, e é neste sentido que devem ser considerados os compartimentos que foram criados pelos próprios historiadores para enquadrar os seus vários tipos de estudos históricos. [...]
A saída é não utilizar as classificações como limites ou mesmo como pretexto para o isolamento. Não se justifica o recuo diante de uma curva demográfica, quando o objeto de estudo o exige, sob o pretexto de que a sua é apenas uma História Cultural. Da mesma forma, um historiador econômico não pode recuar diante dos fatos da cultura (ou dos aspectos culturais de um “fato econômico”).
[trecho extraído de 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, p.15-16].
[EVENTUAIS OPOSIÇÕES ENTRE CAMPOS HISTÓRICOS]
É digno de nota o fato de que algumas das 'dimensões' - os campos históricos que se referem aos enfoques que são trazidos a primeiro plano nos estudos historiográficos - podem começar por ser construídas na história da historiografia por contraste com outras, por vezes gerando certas oposições mais marcantes, até que em seu desenvolvimento posterior certas interfaces possam ser estabelecidas ou retomadas. De certo modo, a História Social e a História Econômica do século XX começaram a ser edificadas a partir de um contraste com a velha História Política que se fazia no século XIX – e isto resultou no provisório abandono de alguns objetos por estas novas sub-especialidades (por longo tempo, declinariam na prática historiográfica profissional do século XX a biografia de personalidades políticas importantes e a história das grandes batalhas, temas que depois retornaram nas últimas décadas do século XX). Em suma: o caleidoscópio historiográfico sofre os seus rearranjos. E estes rearranjos são eles mesmos produtos históricos, derivados das tendências de pensamento de cada época e das suas motivações políticas e sociais. Os paradigmas acabam sendo substituídos uns por outros, por mais que tenham perdurado, e trazem a seu reboque novas tábuas de classificação.
[trecho extraído de 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, p.21].
[ASSOCIAÇÕES ENTRE CAMPOS HISTÓRICOS: O EXEMPLO DA HISTÓRIA DA MORTE]
Os campos históricos associam-se uns aos outros, de acordo com os vários temas e recortes de pesquisa histórica. Podemos considerar, como exemplo, a História da Morte. Um historiador que esteja preocupado em coligir informações sistemáticas a respeito de uma determinada população historicamente localizada – ou, ainda mais especificamente, sobre os níveis e tipos de mortalidade desta população – estará realizando uma História Demográfica de caráter ainda descritivo, em que pese a sua importância para estudos posteriores. Poderá dar a perceber – através de gráficos construídos com informações cuidadosamente extraídas de fontes seriadas – aspectos relativos à idade média com que costumavam morrer os indivíduos deste ou daquele grupo social, os tipos de morte que mais freqüentemente sofriam (oriundas de doenças, de envelhecimento ou de violência social), os bens que costumavam testar para seus herdeiros, os valores monetários que eram habitualmente despendidos nos seus enterros, os tipos de destino que tinham seus corpos (cremados, enterrados, engavetados), a qualidade da madeira empregada nos ataúdes, a presença ou não de epitáfios, a ocorrência de extrema unção, ou sabe-se lá quantos outros aspectos que poderiam compor um panorama informativo sobre a morte na sociedade examinada.
Este seria obviamente um grande panorama descritivo, objeto possível de uma História da Mortalidade no sentido em que esta pode ser definida precisamente pela recolha deste tipo de informações. A “Morte” propriamente dita é contudo um fenômeno social. Ela gera representações, comoções, expectativas espirituais para os que irão partir e expectativas materiais para os que vão ficar. A incidência de um determinado número de mortes através da Peste Negra, comprovada para períodos como o do século XIV, pode ter gerado na época um certo imaginário, ter produzido transformações na religiosidade, ter modificado formas de sociabilidade, ter dado origem a novos objetos da cultura material (como as velas de sétimo dia ou os caixões da madeira menos nobre para atender à demanda de um número crescente de mortos). Um enterro pode ser examinado no que se refere a certos usos sociais, como por exemplo a presença de carpideiras ou a ocorrência de determinado tipo de discursos de despedida, ou ainda a forma de luto e resguardo oficialmente aceita que a viúva deverá observar para não correr o risco de transgredir as normas aceitas pelo grupo.
Os ritos, costumes, tabus, sentimentos, carências e representações gerados pelo fenômeno da morte são obviamente objetos de uma História Social, ou podem ser também objetos de uma História Cultural, de uma História Econômica, ou mesmo de uma História Política (dependendo da importância simbólica do morto). O historiador da Morte que pretenda fazer uma história que não seja simplesmente informativa ou descritiva, mas também problematizada, certamente encontrará caminhos para estabelecer conexões entre as informações numéricas ou padronizadas trazidas pelas técnicas da História Demográfica e as inferências sociais e culturais. Dito de outra forma, ele se empenhará em realizar não só uma História da Mortalidade, mas também uma autêntica História da Morte.
[trecho extraído de 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, p.23-24].
JUÍZO FINAL
O que fez da Vida?
Ao nascer pensou-se que seria
Um autêntico revolucionário
Mas vestiu a máscara que lhe deram
Foi escrever um dicionário
Onde os conceitos jazem mudos
– estacionários
O que fez da Vida??
Inventou alguma receita de bolo
Onde o sabor lhe imortalizasse?
Não! Escreveu o poema limpo
Que os “limpos” queriam ler
E a canção tranquilamente tonal
Que os ouvidos preguiçosos podiam ouvir
Que mais? Acaso pintou um quadro
Da paisagem imaginária
Que se plantada podia ser?
Não!
Tirou as fotografas
Que eram aguardadas solenemente
Pelos álbuns de retratos
Mas tudo isso
– os leitores asseados
Os ouvidos preguiçosos
E os olhares de retratos –
Facilmente se perde no tempo
Ao roer das traças
Está bem! Chega
Não tenha descanso
Nem cansaço ..
[Publicado em Revista Clóvis Moura de Humanidades, vol.6, nº1, 2020]
[PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES: seu entrelaçamento, a partir de um exemplo]
As práticas e representações se entrelaçam nos diversos processos históricos que podem ser estudados pelos historiadores cuturais e sociais. Será possível compreender isto a partir de um exemplo concreto. Para este fim, acompanharemos as “práticas culturais” (e neste caso as “práticas sociais”), que se entreteceram no Ocidente Europeu durante um período situado entre a Idade Média e o período Moderno com relação à aceitação ou rejeição da figura do “mendigo”.
Entre o fim do século XI e o início do século XIII, o pobre, e entre os vários tipos de pobres o mendigo, desempenhava um papel vital e orgânico nas sociedades cristãs do Ocidente Europeu. A sua existência social era justificada como sendo primordial para a “salvação do rico” . Consequentemente, o mendigo – pelo menos o mendigo conhecido – era bem acolhido na sociedade medieval. Toda comunidade, cidade ou mosteiro queria ter os seus mendigos, pois eles eram vistos como laços entre o céu e a terra – instrumentos através dos quais os ricos poderiam exercer a caridade para expiar os seus pecados. Esta visão do pobre como ‘instrumento de salvação para o rico’, antecipemos desde já, é uma ‘representação cultural’.
A postura medieval em relação aos mendigos gerava ‘práticas’, mais especificamente costumes e modos de convivência. Tal como mencionamos atrás, fazem parte do conjunto das “práticas culturais” de uma sociedade também os ‘modos de vida’, as ‘atitudes’ (acolhimento, hostilidade, desconfiança), ou as normas de convivência (caridade, discriminação, repúdio). Tudo isto, conforme veremos, são práticas culturais que, além de gerarem eventualmente produtos culturais no sentido literário e artístico, geram também padrões de vida cotidiana (“cultura” no moderno sentido antropológico).
No século XIII, com as ordens mendicantes inauguradas por São Francisco de Assis, a valorização do pedinte pobre recebe ainda um novo impulso. Antes ainda havia aquela visão amplamente difundida de que, embora o pobre fosse instrumento de salvação necessário para o rico, o mendigo em si mesmo estaria naquela condição como resultado de um pecado. O seu sofrimento pessoal, enfim, não era gratuito, mas resultado de uma determinação oriunda do plano espiritual. Os franciscanos apressam-se em desfazer esta ‘representação’. Seus esforços atuam no sentido de produzir um discurso de reabilitação da imagem do pobre, e mais especificamente do mendigo. O pobre deveria ser estimado pelo seu valor humano, e não apenas por desempenhar este importante papel na economia de salvação das almas. O mendigo não deveria ser mais visto em associação a um estado pecaminoso, embora útil.
Estas ‘representações’ medievais do pobre, com seus sutis deslocamentos, são complementares a inúmeras ‘práticas’. Desenvolvem-se as instituições hospitalares, os projetos de educação para os pobres, as caridades paroquiais, as esmolarias de príncipes. A literatura dos romances, os dramas litúrgicos, as iconografias das igrejas e a arte dos trovadores difunde, em meio a suas práticas, representações do pobre que lhe dão um lugar relativamente confortável na sociedade. Havia os pobres locais, que eram praticamente adotados pela sociedade na qual se inseriam, e os “pobres
de passagem” – os mendigos forasteiros que, se não eram acolhidos em definitivo, pelo menos recebiam alimentação e cuidados por um certo período antes de serem convidados a seguir viagem.
Daremos agora um salto no tempo para verificar como se transformaram estas práticas e representações com a passagem para a Idade Moderna. No século XVI, o mendigo forasteiro será recebido com extrema desconfiança. Ele passa a ser visto de maneira cada vez mais excludente. Suas ‘representações’, em geral, tendem a estar inseridas no âmbito da marginalidade. Pergunta-se que doenças estará prestes a transmitir, se não será um bandido, por que razões não permaneceu no seu lugar de origem, por que não tem uma ocupação qualquer. Assim mesmo, quando um mendigo forasteiro aparecia em uma cidade, no século XVI ele ainda era tratado e alimentado antes de ser expulso. Já no século XVII, ele teria a sua cabeça raspada (um sinal representativo de exclusão), algumas décadas depois ele passaria a ser açoitado, e já no fim deste século a mendicidade implicaria na condenação .
O mendigo, que na Idade Média beneficiara-se de uma representação que o redefinia como “instrumento necessário para a salvação do rico”, era agora penalizado por se mostrar aos poderes dominantes como uma ameaça contra o sistema de trabalho assalariado do Capitalismo, que não podia desprezar braços humanos de custo barato para pôr em movimento suas máquinas e teares, e nem permitir que se difundissem exemplos e modelos inspiradores de vadiagem. O mendigo passava a ser representado então como um desocupado, um estorvo que ameaçava a sociedade (e não mais como um ser merecedor de caridade). Ele passa a ser então assimilado aos marginais, aos criminosos – sua representação mais comum é a do vagabundo. Algumas canções e obras literárias irão representá-lo com alguma freqüência desta nova maneira, os discursos jurídicos e policiais farão isto sempre. As novas tecnologias de poder passariam a visar a sua reeducação, e quando isto não fosse possível a sua punição exemplar. Novas práticas irão substituir as antigas, consolidando novos costumes.
O exemplo chama atenção para a complementaridade das “práticas e representações”, e para a extensão de cada uma destas noções. As práticas relativas aos mendigos forasteiros geram representações, e as suas representações geram práticas, em um emaranhado de atitudes e gestos no qual não é possível distinguir onde estão os começos (se em determinadas práticas, se em determinadas representações).
[extraído de 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, p.77-80]
[PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES: Exemplo do Livro]
Um livro é um objeto cultural bem conhecido no nosso tipo de sociedade. Para a sua produção, são movimentadas determinadas práticas culturais e também representações, sem contar que o próprio livro, depois de produzido, irá difundir novas representações e contribuir para a produção de novas práticas.
As práticas culturais que aparecem na construção do livro são tanto de ordem autoral (modos de escrever, de pensar ou expor o que será escrito), como editoriais (reunir o que foi escrito para constituí-lo em livro), ou ainda artesanais (a construção do livro na sua materialidade, dependendo de estarmos na era dos manuscritos ou da impressão). Da mesma forma, quando um autor se põe a escrever um livro, ele se conforma a determinadas representações do que deve ser um livro, a certas representações concernentes ao gênero literário no qual se inscreverá a sua obra, a representações concernentes aos temas por ela desenvolvidos. Este autor também poderá se tornar criador de novas representações, que encontrarão no devido tempo uma ressonância maior ou menor no circuito leitor ou na sociedade mais ampla.
Com relação a este último aspecto, não podemos esquecerque a leitura de um livro também gera práticas criadoras, podendo produzir concomitantemente práticas sociais. Será o livro lido em leitura silenciosa, em recinto privado, em uma biblioteca, em praça pública? Sabemos que sua leitura poderá ser individual ou coletiva (um letrado, por exemplo, pode ler o livro para uma multidão de não-letrados), e que o seu conteúdo poderá ser imposto ou rediscutido. Por fim, a partir da leitura e difusão do conteúdo do livro, poderão ser geradas inúmeras representações novas sobre os temas que o atravessam, que em alguns casos poderão passar a fazer parte das representações coletivas. O exemplo nos mostra que a produção de um bem cultural, como um livro ou qualquer outro, está necessariamente inscrita em um universo regido por estes dois pólos que são as práticas e as representações.
[extraído de 'O Campo da História'. Petrópolis: Editora Vozes, p.80-81].
GRAVIDADE
Não há por que resistir:
Tua gravidade
dobra a minha vontade
Meu solitário amor por ti
Busca o eterno caminho mais curto
Em um espaço displicentemente deformado
Pela real presença da tua beleza
Tenho irmãos? Talvez rivais?
Não os vejo,
Mas somente a ti
Tua luz me cega!
Teu peso
Me dá leveza
Teus grilhões,
Suaves,
Convertem-se em asas
(Ocultas nos meus ombros
Invisíveis)
Eis-me Anjo
Caindo sobre ti
Sem nunca chegar ao Fim
Eis-me no vôo-queda... que me faz liberto
No mergulho eterno
! Eis-me tudo !
(porque só existo em Ti)
Amo-te
Porque não pode ser
(De outro jeito)
Amo-te
Porque o caminho em torno de ti
É (incontornável)
Amo-te
Porque (não) posso evitá-lo:
Deslizo sobre o caminho traçado
Pela tua fascinante Gravidade
Como um destino
a se cumprir:
inevitável,
solene.
pleno
[UMA DEFINIÇÃO DE IMAGINÁRIO]
Em uma de suas acepções possíveis, podemos considerar o 'Imaginário' como um sistema ou universo complexo e interativo que abrange a produção e circulação de imagens visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas simbólicos diversificados e atuando na construção de representações diversas.
[extraído de 'O Campo da História'. Petrópoçis: Editora Vozes, 2004, p.93].