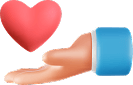Caio Fernando Abreu
Antes que pudesse me assustar e, depois do susto, hesitar entre ir ou não ir, querer ou não querer — eu já estava lá dentro. E estar dentro daquilo era bom. Não me entenda mal — não aconteceu qualquer intimidade dessas que você certamente imagina. Na verdade, não aconteceu quase nada.
(pequenas epifanias)
Além do Ponto
Chovia, chovia, chovia e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele, sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares, só levava uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito, parece falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe, e se eu tomasse um táxi não poderia comprar cigarros nem conhaque, e eu pensei com força então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque, fazia frio, nem tanto frio, mais umidade entrando pelo pano das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e fumaríamos beberíamos sem medidas, haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna distendendo meus músculos. Mas chovia ainda, meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer, eu limpava com as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pêlos, eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo, eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole, mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo, não queria que ele pensasse que eu andava bebendo, e eu andava, todo dia um bom pretexto, e fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda, e eu andava, estômago dolorido de fome, e eu não queria que ele pensasse que eu andava insone, e eu andava, roxas olheiras, teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir, se sorrisse, e quase certamente sim, quando o encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando, sem ir ao dentista, e eu andava, e tudo que eu andava fazendo e sendo eu não queria que ele visse nem soubesse, mas depois de pensar isso me deu um desgosto porque fui percebendo percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu, e eu era. Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía, caía, caía e tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente, se houvesse, e não lembrava de nenhum, ou parar para sempre ali mesmo naquela esquina cinzenta que eu tentava atravessar sem conseguir, os carros me jogando água e lama ao passar, mas eu não podia, ou podia mas não devia, ou podia mas não queria ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás, eu tinha que continuar indo ao encontro dele, ou podia mas não queria ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás, eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abriria a porta, o sax gemido ao fundo e quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente com cravo e canela, essas coisas do inverno, e mais ainda, eu precisava deter a vontade de voltar atrás ou ficar parado, pois tem um ponto, eu descobria, em que você perde o comando das próprias pernas, não é bem assim, descoberta tortuosa que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito, eu apenas começava a saber que tem um ponto, e eu dividido querendo ver o depois do ponto e também aquele agradável dele me esperando quente e pronto.
Um carro passou mais perto e me molhou inteiro, sairia um rio das minhas roupas se conseguisse torcê-las, então decidi na minha cabeça que depois de abrir a porta ele diria qualquer coisa tipo mas como você está molhado, sem nenhum espanto, porque ele me esperava, ele me chamava, eu só ia indo porque ele me chamava, eu me atrevia, eu ia além daquele ponto de estar parado, agora pelo caminho de árvores sem folhas e a rua interrompida que eu revia daquele jeito estranho de já ter estado lá sem nunca ter, hesitava mas ia indo, no meio da cidade como um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha, quem me via assim molhado não via nosso segredo, via apenas um sujeito molhado sem capa nem guarda-chuva, só uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Era a mim que ele chamava, pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele, por dentro da chuva, era para mim que ele abriria sua porta, chegando muito perto agora, tão perto que uma quentura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o conhaque todo, trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las, espantando o roxo da pele fria, começava a escurecer, era cedo ainda, mas ia escurecendo cedo, mais cedo que de costume, e nem era inverno, ele arrumaria uma cama larga com muitos cobertores, e foi então que escorreguei e caí e tudo tão de repente, para proteger a garrafa apertei-a mais contra o peito e ela bateu numa pedra, e além da água da chuva e da lama dos carros a minha roupa agora também estava encharcada de conhaque, como um bêbado, fedendo, não beberíamos então, tentei sorrir, com cuidado, o lábio inferior quase imóvel, escondendo o caco do dente, e pensei na lama que ele limparia terno, porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era para mim e só para mim que ele abriria a sua porta.
Chovia sempre e eu custei para conseguir me levantar daquela poça de lama, chegava num ponto, eu voltava ao ponto, em que era necessário um esforço muito grande, era preciso um esforço muito grande, era preciso um esforço tão terrível que precisei sorri mais sozinho e inventar mais um pouco, aquecendo meu segredo, e dei alguns passos, mas como se faz? me perguntei, como se faz isso de colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral, desaprendia, não era quase nada, eu mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça, agora tão próximo que se quisesse eu poderia imaginar alguma coisa como um zumbido eletrônico saindo da cabeça dele até chegar na minha, mas como se faz? eu reaprendia e inventava sempre, sempre em direção a ele, para chegar inteiro, os pedaços de mim todos misturados que ele disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça para formar que castelo, que bosque, que verme ou deus, eu não sabia, mas ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido, meu único destino: bater naquela porta escura onde eu batia agora. E bati, e bati outra vez, e tornei a bater, e continuei batendo sem me importar que as pessoas na rua parassem para olhar, eu quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome, se é que alguma vez o soube, se é que ele o teve um dia, talvez eu tivesse febre, tudo ficara muito confuso, idéias misturadas, tremores, água de chuva e lama e conhaque batendo e continuava chovendo sem parar, mas eu não ia mais indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade, eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo, depois do ponto, tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto além de continuar batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, na mesma porta que não abre nunca.
Terça-Feira Gorda
De repente ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava nos olhos quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei, quase sorrindo também, a boca gosmenta de tanta cerveja morna, vodca com coca-cola, uísque nacional, gostos que eu nem identificava mais, passando de mão em mão dentro dos copos de plástico. Usava uma tanga vermelha e branca, Xangô, pensei, Iansã com purpurina na cara, Oxaguiã segurando a espada no braço levantado, Ogum Beira-Mar sambando bonito e bandido. Um movimento que descia feito onda dos quadris pelas coxas, até os pés, ondulado, então olhava para baixo e o movimento subia outra vez, onda ao contrário, voltando pela cintura até os ombros. Era então que sacudia a cabeça olhando para mim, cada vez mais perto.
Eu estava todo suado. Todos estavam suados, mas eu não via mais ninguém além dele. Eu já o tinha visto antes, não ali. Fazia tempo, não sabia onde. Eu tinha andado por muitos lugares. Ele tinha um jeito de quem também tinha andado por muitos lugares. Num desses lugares, quem sabe. Aqui, ali. Mas não lembraríamos antes de falar, talvez também nem depois. Só que não havia palavras. havia o movimento, a dança, o suor, os corpos meu e dele se aproximando mornos, sem querer mais nada além daquele chegar cada vez mais perto.
Na minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, acompanhando o movimento dele. Assim: quadris, coxas, pés, onda que desce, olhar para baixo, voltando pela cintura até os ombros, onda que sobe, então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. Ele encostou o peito suado no meu. Tínhamos pêlos, os dois. Os pêlos molhados se misturavam. Ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O quê, perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada: apenas um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele, falei qualquer coisa. O quê, perguntou. Você é gostoso, eu disse. Eu era apenas um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem também.
Eu queria aquele corpo de homem sambando suado bonito ali na minha frente. Quero você, ele disse. Eu disse quero você também. Mas quero agora já neste instante imediato, ele disse e eu repeti quase ao mesmo tempo também, também eu quero. Sorriu mais largo, uns dentes claros. Passou a mão pela minha barriga. Passei a mão pela barriga dele. Apertou, apertamos. As nossas carnes duras tinham pêlos na superfície e músculos sob as peles morenas de sol. Ai-ai, alguém falou em falsete, olha as loucas, e foi embora. Em volta, olhavam.
Entreaberta, a boca dele veio se aproximando da minha. Parecia um figo maduro quando a gente faz com a ponta da faca uma cruz na extremidade mais redonda e rasga devagar a polpa, revelando o interior rosado cheio de grãos. Você sabia, eu falei, que o figo não é uma fruta mas uma flor que abre pra dentro. O quê, ele gritou. O figo, repeti, o figo é uma flor. Mas não tinha importância. Ele enfiou a mão dentro da sunga, tirou duas bolinhas num envelope metálico. Tomou uma e me estendeu a outra. Não, eu disse, eu quero minha lucidez de qualquer jeito. Mas estava completamente louco. E queria, como queria aquela bolinha química quente vinda direto do meio dos pentelhos dele. Estendi a língua, engoli. Nos empurravam em volta, tentei protegê-lo com meu corpo, mas ai-ai repetiam empurrando, olha as loucas, vamos embora daqui, ele disse. E fomos saindo colados pelo meio do salão, a purpurina da cara dele cintilando no meio dos gritos.
Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. A música era só um tumtumtum de pés e tambores batendo. Eu olhei para cima e mostrei olha lá as Plêiades, só o que eu sabia ver, que nem raquete de tênis suspensa no céu. Você vai pegar um resfriado, ele falou com a mão no meu ombro. Foi então que percebi que não usávamos máscara. Lembrei que tinha lido em algum lugar que a dor é a única emoção que não usa máscara. Não sentíamos dor, mas aquela emoção daquela hora ali sobre nós, eu nem sei se era alegria, também não usava máscara. Então pensei devagar que era proibido ou perigoso não usar máscara, ainda mais no Carnaval.
A mão dele apertou meu ombro. Minha mão apertou a cintura dele. sentado na areia, ele tirou da sunga mágica um pequeno envelope, um espelho redondo, uma gilette. Bateu quatro carreiras, cheirou duas, me estendeu a nota enroladinha de cem. Cheirei fundo, uma em cada narina. Lambeu o vidro, molhei as gengivas. Joga o espelho no mar pra Iemanjá, me disse. O espelho brilhou rodando no ar, e enquanto acompanhava o vôo fiquei com medo de olhar outra vez para ele. Porque se você pisca, quando torna a abrir os olhos o lindo pode ficar feio. Ou vice-versa. Olha pra mim, ele pediu. E eu olhei.
Brilhávamos, os dois, nos olhando sobre a areia. Te conheço de algum lugar, cara, ele disse, mas acho que é da minha cabeça mesmo. Não tem importância, eu falei. Ele falou não fale, depois me abraçou forte. Bem de perto, olhei a cara dele, que olhada assim não era bonita nem feia: de poros e pêlos, uma cara de verdade olhando bem de perto a cara de verdade que era a minha. A língua dele lambeu meu pescoço, minha língua entrou na orelha dele, depois se misturaram molhadas. Feito dois figos maduros apertados um contra o outro, as sementes vermelhas chocando-se com um ruído de dente contra dente.
Tiramos as roupas um do outro, depois rolamos na areia. Não vou perguntar teu nome, nem tua idade, teu telefone, teu signo ou endereço, ele disse. O mamilo duro dele na minha boca, a cabeça dura do meu pau dentro da mão dele. O que você mentir eu acredito, eu disse, que nem na marcha antiga de Carnaval. A gente foi rolando até onde as ondas quebravam para que a água lavasse e levasse o suor e a areia e a purpurina dos nossos corpos. A gente se apertou um conta o outro. A gente queria ficar apertado assim porque nos completávamos desse jeito, o corpo de um sendo a metade perdida do corpo do outro. Tão simples, tão clássico. A gente se afastou um pouco, só para ver melhor como eram bonitos nossos corpos nus de homens estendidos um ao lado do outro, iluminados pela fosforescência das ondas do mar. Plâncton, ele disse, é um bicho que brilha quando faz amor.
E brilhamos.
Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Ai-ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. A boca molhada afundando no meio duma massa escura, o brilho de um dente caído na areia. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava sozinho e nu correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito próximos.
Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, eu conseguia ver três imagens se sobrepondo. Primeiro o corpo suado dele, sambando, vindo em minha direção. Depois as Plêiades, feito uma raquete de tênis suspensa no céu lá em cima. E finalmente a queda lenta de um figo muito maduro, até esborrachar-se contra o chão em mil pedaços sangrentos.
Os dragões não conhecem o paraíso
Tenho um dragão que mora comigo.
Não, isso não é verdade.
Não tenho nenhum dragão. E, ainda que tivesse, ele não moraria comigo nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu espaço - seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou invulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei, sozinho neste apartamento, depois de sua partida. Digo quase porque, durante aquele tempo em que ele esteve comigo, alimentei a ilusão de que meu isolamento para sempre tinha acabado. E digo ilusão porque, outro dia, numa dessas manhãs áridas da ausência dele, felizmente cada vez menos freqüentes (a aridez, não a ausência), pensei assim: Os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma que precisam da ilusão de Deus. Da ilusão do amor para não afundarem no poço horrível da solidão absoluta; da ilusão de Deus, para não se perderem no caos da desordem sem nexo.
Isso me pareceu gradiloqüente e sábio como uma idéia que não fosse minha, tão estúpidos costumam ser meus pensamentos. E tomei nota rapidamente no guardanapo do bar onde estava. Escrevi também mais alguma coisa que ficou manchada pelo café. Até hoje não consigo decifrá-la. Ou tenho medo da minha - felizmente indecifrável - lucidez daquele dia.
Estou me confundindo, estou me dispersando.
O guardanapo, a frase, a mancha, o medo - isso deve vir mais tarde. Todas essas coisas de que falo agora - as particularidades dos dragões, a banalidade das pessoas como eu -, só descobri depois. Aos poucos, na ausência dele, enquanto tentava compreendê-lo. Cada vez menos para que minha compreensão fosse sedutora, e cada vez mais para que essa compreensão ajudasse a mim mesmo a. Não sei dizer. Quando penso desse jeito, enumero proposições como: a ser uma pessoa menos banal, a ser mais forte, mais seguro, mais sereno, mais feliz, a navegar com um mínimo de dor. Essas coisas todas que decidimos fazer ou nos tornar quando algo que supúnhamos grande acaba, e não há nada a ser feito a não ser continuar vivendo.
Então, que seja doce. Repito todas as manhãs, ao abrir as janelas para deixar entrar o sol ou o cinza dos dias, bem assim: que seja doce. Quando há sol, e esse sol bate na minha cara amassada do sono ou da insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, feito um pequeno universo, repito sete vezes para dar sorte: que seja doce que seja doce que seja doce e assim por diante.
Mas, se alguém me perguntasse o que deverá ser doce, talvez não saiba responder. Tudo é tão vago como se não fosse nada.
Ninguém perguntará coisa alguma, penso. Depois continuo a contar para mim mesmo, como se fosse ao mesmo tempo o velho que conta e a criança que escuta, sentado no colo de mim. Foi essa a imagem que me veio hoje pela manhã quando, ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem contar esta história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói, um pouco. Não mais uma ferida recente, apenas um pequeno espinho de rosa, coisa assim, que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de uma agulha. Mas, se você não consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode deixar de ser uma pequena dor para se transformar numa grande chaga.
Assim, agora, estou aqui. Ponta fina de agulha equilibrada entre os dedos da mão direita, pairando sobre a palma aberta da mão esquerda. Algumas anotações em volta, tomadas há muito tempo, o guardanapo de papel do bar, com aquelas palavras sábias que não parecem minhas e aquelas outras, manchadas, que não consigo ou não quero ou finjo não poder decifrar.
Ainda não comecei.
Queria tanto saber dizer Era uma vez. Ainda não consigo.
Mas preciso começar de alguma forma. E esta, enfim, sem começar propriamente, assim confuso, disperso, monocórdio, me parece um jeito tão bom ou mau quanto qualquer outro de começar uma história. Principalmente se for uma história de dragões.
Gosto de dizer tenho um dragão que mora comigo, embora não seja verdade. Como eu dizia, um dragão jamais pertence a, nem mora com alguém. Seja uma pessoa banal igual a mim, seja unicórnio, salamandra, harpia, elfo, hamadríade, sereia ou ogro. Duvido que um dragão conviva melhor com esses seres mitológicos, mais semelhantes à natureza dele, do que com um ser humano. Não que sejam insociáveis. Pelo contrário, às vezes um dragão sabe ser gentil e submisso como uma gueixa. Apenas, eles não dividem seus hábitos.
Ninguém é capaz de compreender um dragão. Eles jamais revelam o que sentem. Quem poderia compreender, por exemplo, que logo ao despertar (e isso pode acontecer em qualquer horário, às três ou às onze da noite, já que o dia e a noite deles acontecem para dentro, mas é mais previsível entre sete e nove da manhã, pois essa é a hora dos dragões) sempre batem a cauda três vezes, como se tivessem furiosos, soltando fogo pelas ventas e carbonizando qualquer coisa próxima num raio de mais de cinco metros? Hoje, pondero: talvez seja essa a sua maneira desajeitada de dizer, como costumo dizer agora, ao despertar - que seja doce.
Mas no tempo em que vivia comigo, eu tentava - digamos - adaptá-lo às circunstâncias. Dizia por favor, tente compreender, querido, os vizinho banais do andar de baixo já reclamaram da sua cauda batendo no chão ontem às quatro da madrugada. O bebê acordou, disseram, não deixou ninguém mais dormir. Além disso, quando você desperta na sala, as plantas ficam todas queimadas pelo seu fogo. E, quanto você desperta no quarto, aquela pilha de livros vira cinzas na minha cabeceira.
Ele não prometia corrigir-se. E eu sei muito bem como tudo isso parece ridículo. Um dragão nunca acha que está errado. Na verdade, jamais está. Tudo que faz, e que pode parecer perigoso, excêntrico ou no mínimo mal-educado para um humano igual a mim, é apenas parte dessa estranha natureza dos dragões. Na manhã, na tarde ou na noite seguintes, quanto ele despertasse outra vez, novamente os vizinhos reclamariam e as prímulas amarelas e as begônias roxas e verdes, e Kafka, Salinger, Pessoa, Clarice e Borges a cada dia ficariam mais esturricados. Até que, naquele apartamento, restássemos eu e ele entre as cinzas. Cinzas são como sedas para um dragão, nunca para um humano, porque a nós lembra destruição e morte, não prazer. Eles trafegam impunes, deliciados, no limiar entre essa zona oculta e a mais mundana. O que não podemos compreender, ou pelo menos aceitar.
Além de tudo: eu não o via. Os dragões são invisíveis, você sabe. Sabe? Eu não sabia. Isso é tão lento, tão delicado de contar - você ainda tem paciência? Certo, muito lógico você querer saber como, afinal, eu tinha tanta certeza da existência dele, se afirmo que não o via. Caso você dissesse isso, ele riria. Se, como os homens e as hienas, os dragões tivessem o dom ambíguo do riso. Você o acharia talvez irônico, mas ele estaria impassível quanto perguntasse assim: mas então você só acredita naquilo que vê? Se você dissesse sim, ele falaria em unicórnios, salamandras, harpias, hamadríades, sereias e ogros. Talvez em fadas também, orixás quem sabe? Ou átomos, buracos negros, anãs brancas, quasars e protozoários. E diria, com aquele ar levemente pedante: "Quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Os dragões não cabem nesses pequenos mundos de paredes invioláveis para o que não é visível".
Ele gostava tanto dessas palavras que começam com in - invisível, inviolável, incompreensível -, que querem dizer o contrário do que deveriam. Ele próprio era inteiro o oposto do que deveria ser. A tal ponto que, quando o percebia intratável, para usar uma palavra que ele gostaria, suspeitava-o ao contrário: molhado de carinho. Pensava às vezes em tratá-lo dessa forma, pelo avesso, para que fôssemos mais felizes juntos. Nunca me atrevi. E, agora que se foi, é tarde demais para tentar requintadas harmonias.
Ele cheirava a hortelã e alecrim. Eu acreditava na sua existência por esse cheiro verde de ervas esmagadas dentro das duas palmas das mãos. Havia outros sinais, outros augúrios. Mas quero me deter um pouco nestes, nos cheiros, antes de continuar. Não acredite se alguém, mesmo alguém que não tenha um mundo pequeno, disser que os dragões cheiram a cavalos depois de uma corrida, ou a cachorros das ruas depois da chuva. A quartos fechados, mofo, frutas podres, peixe morto e maresia - nunca foi esse o cheiro dos dragões.
A hortelã e alecrim, eles cheiram. Quando chegava, o apartamento inteiro ficava impregnado desse perfume. Até os vizinhos, aqueles do andar de baixo, perguntavam se eu andava usando incenso ou defumação. Bem, a mulher perguntava. Ela tinha uns olhos azuis inocentes. O marido não dizia nada, sequer me cumprimentava. Acho que pensava que era uma dessas ervas de índio que as pessoas costumam fumar quando moram em apartamentos, ouvindo música muito alto. A mulher dizia que o bebê dormia melhor quando esse cheiro começava a descer pelas escadas, mais forte de tardezinha, e que o bebê sorria, parecendo sonhar. Sem dizer nada, eu sabia que o bebê sonhava com dragões, unicórnios ou salamandras, esse era um jeito do seu mundo ir-se tornando aos poucos mais largo. Mas os bebês costumam esquecer dessas coisas quanto deixam de ser bebês, embora possuam a estranha facilidade de ver dragões - coisa que só os mundos muito largos conseguem.
Eu aprendi o jeito de perceber quando o dragão estava a meu lado. Certa vez, descemos juntos pelo elevador com aquela mulher de olhos-azuis-inocentes e seu bebê, que também tinha olhos-azuis-inocentes. O bebê olhou o tempo todo para onde estava o dragão. Os dragões param sempre do lado esquerdo das pessoas, para conversar direto com o coração. O ar a meu lado ficou leve, de uma coloração vagamente púrpura. Sinal que ele estava feliz. Ele, o dragão, e também o bebê, e eu, e a mulher, e a japonesa que subiu no sexto andar, e um rapaz de barba no terceiro. Sorríamos suaves, meio tolos, descendo juntos pelo elevador numa tarde que lembro de abril - esse é o mês dos dragões - dentro daquele clima de eternidade fluida que apenas os dragões, mas só às vezes, sabem transmitir.
Por situações como essa, eu o amava. E o amo ainda, quem sabe mesmo agora, quem sabe mesmo sem saber direito o significado exato dessa palavra seca - amor. Se não o tempo todo, pelo menos quanto lembro de momentos assim. Infelizmente, raros. A aspereza e avesso parecem ser mais constantes na natureza dos dragões do que a leveza e o direito. Mas queria falar de antes do cheiro. Havia outros sinais, já disse. Vagos, todos eles.
Nos dias que antecediam a sua chegada, eu acordava no meio da noite, o coração disparado. As palmas das mãos suavam frio. Sem saber porque, nas manhãs seguintes, compulsivamente eu começava a comprar flores, limpar a casa, ir ao supermercado e à feira para encher o apartamento de rosas e palmas e morangos daqueles bem gordos e cachos de uvas reluzentes e berinjelas luzidias (os dragões, descobri depois, adoram contemplar berinjelas) que eu mesmo não conseguia comer. Arrumava em pratos, pelos cantos, com flores e velas e fitas, para que os espaços ficassem mais bonito.
Como uma fome, me dava. Mas uma fome de ver, não de comer. Sentava na sala toda arrumada, tapete escovado, cortinas lavadas, cestas de frutas, vasos de flores - acendia um cigarro e ficava mastigando com os olhos a beleza das coisas limpas, ordenadas, sem conseguir comer nada com a boca, faminto de ver. À medida que a casa ficava mais bonita, eu me tornava cada vez mais feio, mais magro, olheiras fundas, faces encovadas. Porque não conseguia dormir nem comer, à espera dele. Agora, agora vou ser feliz, pensava o tempo todo numa certeza histérica. Até que aquele cheiro de alecrim, de hortelã, começasse a ficar mais forte, para então, um dia, escorregar que nem brisa por baixo da porta e se instalar devagarzinho no corredor de entrada, no sofá da sala, no banheiro, na minha cama. Ele tinha chegado.
Esses ritmos, só descobri aos poucos. Mesmo o cheiro de hortelã e alecrim, descobri que era exatamente esse quando encontrei certas ervas numa barraca de feira. Meu coração disparou, imaginei que ele estivesse por perto. Fui seguindo o cheiro, até me curvar sobre o tabuleiro para perceber: eram dois maços verdes, a hortelã de folhinhas miúdas, o alecrim de hastes compridas com folhas que pareciam espinhos, mas não feriam. Pergunte o nome, o homem disse, eu não esqueci. Por pura vertigem, nos dias seguintes repetia quanto sentia saudade: alecrim hortelã alecrim hortelã alecrim hortelã alecrim.
Antes, antes ainda, o pressentimento de sua visita trazia unicamente ansiedade, taquicardias, aflição, unhas roídas. Não era bom. Eu não conseguia trabalhar, ira ao cinema, ler ou afundar em qualquer outra dessas ocupações banais que as pessoas como eu têm quando vivem. Só conseguia pensar em coisas bonitas para a casa, e em ficar bonito eu mesmo para encontrá-lo. A ansiedade era tanta que eu enfeiava, à medida que os dias passavam. E, quando ele enfim chegava, eu nunca tinha estado tão feio. Os dragões não perdoam a feiúra. Menos ainda a daqueles que honram com sua rara visita.
Depois que ele vinha, o bonito da casa contrastando com o feio do meu corpo, tudo aos poucos começava a desabar. Feito dor, não alegria. Agora agora agora vou ser feliz, eu repetia: agora agora agora. E forçava os olhos pelos cantos de prata esverdeadas, luz fugidia, a ponta em seta de sua cauda pela fresta de alguma porta ou fumaça de suas narinas, sempre mau, e a fumaça, negra. Naqueles dias, enlouquecia cada vez mais, querendo agora já urgente ser feliz. Percebendo minha ânsia, ele tornava-se cada vez mais remoto. Ausentava-se, retirava-se, fingia partir. Rarefazia seu cheiro de ervas até que não passasse de uma suspeita verde no ar. Eu respirava mais fundo, perdia o fôlego no esforço de percebê-lo, dias após dia, enquanto flores e frutas apodreciam nos vasos, nos cestos, nos cantos. Aquelas mosquinhas negras miúdas esvoaçavam em volta delas, agourentas.
Tudo apodrecia mais e mais, sem que eu percebesse, doído do impossível que era tê-lo. Atento somente à minha dor, que apodrecia também, cheirava mal. Então algum dos vizinhos batia à porta para saber se eu tinha morrido e sim, eu queria dizer, estou apodrecendo lentamente, cheirando mal como as pessoas banais ou não cheiram quando morrem, à espera de uma felicidade que não chega nunca. Ele não compreenderia. Eu não compreendia, naqueles dias - você compreende?
Os dragões, já disse, não suportam a feiúra. Ele partia quando aquele cheiro de frutas e flores e, pior que tudo, de emoções apodrecidas tornava-se insuportável. Igual e confundido ao cheiro da minha felicidade que, desta e mais uma vez, ele não trouxera. Dormindo ou acordado, eu recebia sua partida como um súbito soco no peito. Então olhava para cima, para os lados, à procura de Deus ou qualquer coisa assim - hamadríades, arcanjos, nuvens radioativas, demônios que fossem. Nunca os via. Nunca via nada além das paredes de repente tão vazias sem ele.
Só quem já teve um dragão em casa pode saber como essa casa parece deserta depois que ele parte. Dunas, geleiras, estepes. Nunca mais reflexos esverdeados pelos cantos, nem perfume de ervas pelo ar, nunca mais fumaças coloridas ou formas como serpentes espreitando pelas frestas de portas entreabertas. Mais triste: nunca mais nenhuma vontade de ser feliz dentro da gente, mesmo que essa felicidade nos deixe com o coração disparado, mãos úmidas, olhos brilhantes e aquela fome incapaz de engolir qualquer coisa. A não ser o belo, que é de ver, não de mastigar, e por isso mesmo também uma forma de desconforto. No turvo seco de uma casa esvaziada da presença de um dragão, mesmo voltando a comer e a dormir normalmente, como fazem as pessoas banais, você não sabe mais se não seria preferível aquele pântano de antes, cheio de possibilidades - que não aconteciam, mas que importa? - a esta secura de agora. Quando tudo, sem ele, é nada.
Hoje, acho que sei. Um dragão vem e parte para que seu mundo cresça? Pergunto - porque não estou certo - coisas talvez um tanto primárias, como: um dragão vem e parte para que você aprenda a dor de não tê-lo, depois de ter alimentado a ilusão de possuí-lo? E para, quem sabe, que os humanos aprendam a forma de retê-lo, se ele um dia voltar?
Não, não é assim. Isso não é verdade.
Os dragões não permanecem. Os dragões são apenas a anunciação de si próprios. Eles se ensaiam eternamente, jamais estréiam. As cortinas não chegam a se abrir para que entrem em cena. Eles se esboçam e se esfumam no ar, não se definem. O aplauso seria insuportável para eles: a confirmação de que sua inadequação é compreendida e aceita e admirada, e portanto - pelo avesso igual ao direito - incompreendida, rejeitada, desprezada. Os dragões não querem ser aceitos. Eles fogem do paraíso, esse paraíso que nós, as pessoas banais, inventamos - como eu inventava uma beleza de artifícios para esperá-lo e prendê-lo para sempre junto a mim. Os dragões não conhecem o paraíso, onde tudo acontece perfeito e nada dói nem cintila ou ofega, numa eterna monotonia de pacífica falsidade. Seu paraíso é o conflito, nunca a harmonia.
Quando volto apensar nele, nestas noites em que dei para me debruçar à janela procurando luzes móveis pelo céu, gosto de imaginá-lo voando com suas grandes asas douradas, solto no espaço, em direção a todos os lugares que é lugar nenhum. Essa é sua natureza mais sutil, avessa às prisões paradisíacas que idiotamente eu preparava com armadilhas de flores e frutas e fitas, quando ele vinha. Paraísos artificiais que apodreciam aos poucos, paraíso de eu mesmo - tão banal e sedento - a tolerar todas as suas extravagâncias, o que devia lhe soar ridículo, patético e mesquinho. Agora apenas deslizo, sem excessivas aflições de ser feliz.
As manhãs são boas para acordar dentro delas, beber café, espiar o tempo. Os objetos são bons de olhar para eles, sem muitos sustos, porque são o que são e também nos olham, com olhos que nada pensam. Desde que o mandei embora, para que eu pudesse enfim aprender a grande desilusão do paraíso, é assim que sinto: quase sem sentir.
Resta esta história que conto, você ainda está me ouvindo? Anotações soltas sobre a mesa, cinzeiros cheios, copos vazios e este guardanapo de papel onde anotei frases aparentemente sábias sobre o amor e Deus, com uma frase que tenho medo de decifrar e talvez, afinal, diga apenas qualquer coisa simples feito: nada disso existe.
Nada, nada disso existe.
Então quase vomito e choro e sangro quando penso assim. Mas respiro fundo, esfrego as palmas das mãos, gero energia em mim. Para manter-me vivo, saio à procura de ilusões como o cheiro das ervas ou reflexos esverdeados de escamas pelo apartamento e, ao encontrá-los, mesmo apenas na mente, tornar-me então outra vez capaz de afirmar, como num vício inofensivo: tenho um dragão que mora comigo. E, desse jeito, começar uma nova história que, desta vez sim, seria totalmente verdadeira, mesmo sendo completamente mentira. Fico cansado do amor que sinto, e num enorme esforço que aos poucos se transforma numa espécie de modesta alegria, tarde da noite, sozinho neste apartamento no meio de uma cidade escassa de dragões, repito e repito este meu confuso aprendizado para a criança-eu-mesmo sentada aflita e com frio nos joelhos do sereno velho-eu-mesmo:
- Dorme, só existe o sonho. Dorme, meu filho. Que seja doce.
Não, isso também não é verdade.
PELA PASSAGEM DE UMA GRANDE DOR
(Ao som de Erik Satie)
A primeira vez que o telefone tocou ele não se moveu. Continuou sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras desbotadas com coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala tremer e flutuar, empalidecida pelo bordô mortiço da cor de luxe de um filme antigo qualquer. Quando o telefone tocou pela segunda vez ele estava tentando lembrar se o nome daquela melodia meio arranhada e lentíssima que vinha da outra sala seria mesmo “Desespero agradável” ou “Por um desespero agradável”. De qualquer forma, pensou, desespero. E agradável.
A luz de mercúrio da rua varava os orifícios das cortinas de renda misturando-se, azulada, à cor meio decomposta do filme. Pouco antes do telefone tocar pela terceira vez ele resolveu levantar-se — conferir o nome da música, disse para si mesmo, e caminhou para dentro atravessando o pequeno corredor onde, como sempre, a perna da calça roçou contra a folha rajada de uma planta. Preciso trocá-la de lugar, lembrou, como sempre. E um pouco antes ainda de estender a mão para pegar o telefone na estante, inclinou-se sobre as capas de discos espalhadas pelo chão, entre um cinzeiro cheio e um caneco de cerâmica crua quase vazio, a não ser por uns restos no fundo, que vistos assim de cima formavam uma massa verde, úmida e compacta. “Désespoir agréable”, confirmou. Ainda em pé, colocou a capa branca do disco sobre a mesa enquanto repetia mentalmente: de qualquer forma, desespero. E agradável.
— Lui? — A voz conhecida. — Alô? É você, Lui?
— Eu — ele disse.
— O que é que você está fazendo?
Ele sentou-se. Depois estendeu o braço em frente ao rosto e olhou a palma aberta da própria mão. As pequenas áreas descascadas, ácido úrico, diziam, corroendo lento a pele.
— Alô? Você está me ouvindo?
— Oi — ele disse.
Perguntei o que é que você estava fazendo?
— Fazendo? Nada. Por aí, ouvindo música, vendo tevê. — Fechou a mão. — Agora ia fazer um café. E dormir.
Hein? Fala mais alto.
— Mas não sei se tem pó.
—O quê?
— Nada, bobagem. E você?
Do outro lado da linha, ela suspirou sem dizer nada. Então houve um silêncio curto e em seguida um clique seco e uma espécie de sopro. Deve ter acendido um cigarro, ele pensou. Dobrou mecanicamente o corpo para a esquerda até trazer o cinzeiro cheio de pontas para o lado do telefone.
— Que que houve? — perguntou lento, olhando em volta à procura de um maço de cigarros.
— Escuta, você não quer dar uma saída?
— Estou cansado. Não tenho cabeça. E amanhã preciso acordar muito cedo.
— Mas eu passo aí com o carro. Depois deixo você de novo. A gente não demora nada. Podia ir a um bar, a um cinema, a um.
— Já passa das dez — ele disse.
A voz dela ficou um pouco mais aguda.
— E vir aqui, quem sabe. Também você não quer, não é? Tenho uma vodca ótima. Daquelas. Você adora, nem abri ainda. Só não tenho limão, você traz? — A voz ficou subitamente tão aguda que ele afastou um pouco o fone do ouvido. Por um momento ficou ouvindo a melodia distante, lenta e arranhada do piano. Através dos vidros da porta, com a luz acesa nos fundos, conseguia ver a copa verde das plantas no jardim, algumas folhas amareladas caídas no chão de cimento. Sem querer, quase estremeceu de frio. Ou uma espécie de medo. Esfregou a palma seca da mão esquerda contra a coxa. A voz dela ficou mais baixa quando perguntou:
— E se eu fosse até aí?
Os dedos dele tocaram o maço de cigarros no bolso da calça. Ele contraiu o ombro direito, equilibrando o fone contra o rosto, e puxou devagar o maço.
— Sabe o que é — disse.
—Lui?
Com os dentes, ele prendeu o filtro de um dos cigarros. Mordeu-o, levemente.
— Alô, Lui? Você está aí?
Ele contraiu mais o ombro para acender o cigarro. O fone quase se desequilibrou. Tragou fundo. Tornou a pegar o fone com a mão e soltou pouco a pouco o ombro dolorido soprando a fumaça.
— Eu já estava quase dormindo.
— Que música é essa aí no fundo? — ela perguntou de repente.
Ele puxou o cinzeiro para perto. Virou a capa do disco nas mãos.
— Chama-se “Por um desespero agradável” — mentiu. — Você gosta?
— Não sei. Acho que dá um pouco de sono. Quem é?
Ele bateu o cigarro três vezes na borda do cinzeiro, mas não caiu nenhuma cinza.
— Um cara aí. Um doido.
— Como ele se chama?
— Erik Satie — ele disse bem baixo. Ela não ouviu.
— Lui? Alô, Lui?
— Digue.
— Estou te enchendo o saco? — Outra vez ele escutou o silêncio curto, o clique seco e o sopro leve. Deve ter acendido outro cigarro, pensou. E soprou a fumaça.
— Não — disse.
— Estou te enchendo? Fala. Eu sei que estou.
— Tudo bem, eu não estava mesmo fazendo nada.
— Não consigo dormir — ela disse muito baixo.
— Você está deitada?
— É, lendo. Aí me deu vontade de falar com você.
Ele tragou fundo. Enquanto soprava a fumaça, curvou outra vez o corpo para apanhar
o caneco de cerâmica. Enfiou o indicador até
o fundo, depois mordiscou as folhas miúdas
com os incisivos e perguntou:
— O que é que você estava lendo?
— Nada, não. Uma matéria aí numa revista. Um negócio sobre monoculturas e sprays.
— What about?
—Hein?
— O que você estava lendo.
Ela tossiu. Depois pareceu se animar.
— Umas coisas assim, ecologias, sabe? Diz que se você só planta uma espécie de coisa na terra por muitos anos, ela acaba morrendo. A terra, não a coisa plantada, entende? Soja, por exemplo. Diz que acaba a camada de húmus. Parece que eucalipto também. Depois aos poucos vira deserto. Vão ficando uns pontos assim. Vazios, entende? Desérticos. Espalhados por toda a terra.
O disco acabou, ele não se mexeu. Depois, recomeçou.
— Assim como se você pingasse uma porção de gotas de tinta num mata-borrão — ela continuou. — Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior. Fica cada vez maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia?
— Sabia — ele disse.
— Horrível, não?
— E os sprays?
—O quê?
— Os sprays. O que é que tem os sprays?
— Ah, pois é. Foi na mesma revista. Diz que cada apertada que você dá assim num tubo de desodorante. Não precisa ser desodorante, qualquer tubo, entende? Faz assim ah, como é que eu vou dizer? Um furo, sabe? Um rombo, um buraco na camada de como é mesmo que se diz?
— Ozônio — ele disse.
— Pois é, ozônio. O ar que a gente respira, entende? A biosfera.
— Já deve estar toda furadinha então — ele disse.
—O quê?
— Deve estar toda furada — ele repetiu bem devagar. — A camada. A biosfera. O ozônio.
— Já pensou que horror? Você sabia disso Lui?
Ele não respondeu.
— Alô, Lui? Você ainda está aí?
— Estou.
— Acho que fiquei meio horrorizada. E com medo. Você não tem medo, Lui?
— Estou cansado.
Do outro lado da linha, ela riu. Pelo som, ele adivinhou que ela ria sem abrir a boca, apenas os ombros sacudindo, movendo a cabeça para os lados, alguns fios de cabelo caídos nos olhos.
— Não estou te alugando? — ela perguntou. — Você sempre diz que eu te alugo. Como se você fosse um imóvel, uma casa. Eu, se fosse uma casa, queria uma piscina nos fundos. Um jardim enorme. E ar-condicionado. Que tipo de casa você queria ser, Lui?
— Eu não queria ser casa.
- Como?
— Queria ser um apartamento.
— Sei, mas que tipo?
Ele suspirou:
— Uma quitinete. Sem telefone.
— O quê? Alô, Lui? Você não ia mesmo fazer nada?
— Um chá, eu ia fazer um chá.
— Não era café? Me lembro que você falou que ia fazer café.
— Não tem mais pó. — Ele lambeu a ponta do indicador, depois umedeceu o nariz por dentro. Então sacudiu o cinzeiro cheio de pontas queimadas e cinza. Algumas partículas voaram, caindo sobre a capa branca do disco, com um desenho abstrato no centro. Com cuidado, juntou-as num montinho sobre o canto roxo da figura central. — Nem coador de papel. E acabei de me lembrar que tenho um chá incrível. Tem até uma bula louquíssima, quer ver? Guardei aqui dentro. — Ele equilibrou o fone com o ombro e abriu a cadernetinha preta de endereços.
— Chá não tem bula — ela resmungou. Parecia aborrecida, meio infantil. — Bula é de remédio.
— Tem sim, esse chá tem. Quer ver só? — Entre duas fotos polaroid desbotadas, na contracapa da caderneta, encontrou o retângulo de papel amarelo dobrado em quatro.
— Lui? Você não quer mesmo vir até aqui? Sabe — ela tornou a rir, e desta vez ele imaginou que quase escancarava a boca, passando devagar a língua pelos lábios ressecados de cigarro —, eu acho que fiquei meio impressionada com essa história dos desertos, dos buracos, do ozônio. Lui, você acha que o mundo está mesmo no fim?
Ele desdobrou sobre a mesa o papel amarelo, ao lado das duas fotos tão desbotadas quanto as manchas redondas de xícaras quentes na madeira escura. Uma das fotos era de uma mulher quase bonita, cabelos presos e brincos de ouro em forma de rosas miudinhas. A outra era de um rapaz com blusa preta de gola em V, o rosto apoiado numa das mãos, leve estrabismo nos olhos escuros.
— Sem falar nas usinas nucleares — ele disse. E com a ponta dos dedos, do canto roxo do desenho na capa do disco, foi empurrando o montículo de cinzas por cima das formas torcidas, marrom, amarelo, verde, até o espaço branco e, por fim, exatamente sobre o rosto do rapaz da foto.
— Lui? — ela chamou inquieta. — Encontrou o negócio do tal chá?
— Encontrei.
— Você está esquisito. O que é que há?
— Nada. Estou cansado, só isso. Quer ver o que diz a bula? É inglês, você entende um pouco, não é? — Ela não respondeu. Então ele leu, dramático: —... is exceilent for ali types of nervous disorders, paranoia, schizophrenia, drugs effects, digestive problems, hornionai diseases and other disorders... — Começou a rir baixinho, divertido: — Entendeu?
— Entendi — ela disse. — É um inglês fácil, qualquer um entende. Porreta esse chá, hein? É inglês?
Ele continuou rindo:
— Chinês. Aqui embaixo diz produced in China. — Com a cinza, cobriu todo o olho estrábico do rapaz. — Drugs effects é ótimo, não é?
— Maravilhoso — ela falou. — O disco tá tocando de novo, já ouvi esse.
— Tá bom — ela disse.
— Tá bom — ele repetiu. E pensou que quando começavam a falar desse jeito sempre era um sinal tácito para algum desligar. Mas não quis ser o primeiro.
— Vou tirar amanhã — ela falou de repente.
— Hein?
— Nada. Vai fazer teu chá.
— Tá bom. Aqui diz também que tem vitamina E. — Abriu a mão e olhou as manchas branquicentas na palma. — Não é essa que é boa para a pele?
— Acho que aquela é a A. Não entendo muito de vitaminas.
— Nem eu. A C eu sei que é a da gripe, todo mundo sabe. Qual será a que cura os tais drugs effects? Cheirei todas hoje. Estou com aquele... vazio intenso, sabe como?
— Não sei. — De repente ela parecia apressada. — Vou desligar.
— Você ligou o rádio?
— Ainda não. Como é mesmo o nome dessa música?
— “Por um desespero agradável” — ele mentiu outra vez, depois corrigiu: — Não. É só “Desespero agradável”.
— Agradável?
— É, agradável. Por que não?
— Engraçado. Desespero nunca é agradável.
— Às vezes sim. Cocaína, por exemplo.
— Você só pensa nisso?
— Não, penso em fazer um chá também.
— Hein?
— Mas essa que tá tocando agora é outra, ouça. — Ele ergueu um momento o fone no ar em direção às caixas de som e ficou um momento assim, parado. — São todas muito parecidas. Só piano, mais nada. — A cinza cobria o rosto inteiro do rapaz na foto. — Essa agora chama-se “À l’occasion d’une grande peine”.
— Sei.
— É francês.
— Sei.
— Pena, dor. Não pena de galinha. Uma grande dor. Occasion acho que é ocasião mesmo. Mas podia ser passagem. Melhor, você não acha? Passagem parece que já vai embora, que já vai passar. O que é que você acha?
— Vou ver se durmo. — Ela bocejou. — Francês, inglês, chá chinês. Você hoje está internacional demais para o meu gabarito.
— Escapismo — ele disse. E acendeu outro cigarro.
— Uma pena que você não queira mesmo sair. — A voz dela parecia mais longe. — Estou pensando em abrir mesmo aquela garrafa de vodca.
— Antes de dormir? — ele falou. — Toma leite morno, dá sono. Põe bastante canela. E mel, açúcar faz mal.
— Mal? Logo quem falando...
— Faça o que eu digo, não faça o que eu. A cinza descia pelo pescoço, quase confundida com o preto da gola. A voz dela soava um tanto irônica, quase ferina.
— Ué, agora você resolveu cuidar de mim, é?
— Vou fazer meu chá — ele disse.
— Como é mesmo que se pronuncia?
Esquizôfrenia?
— Não, é squizofrênia. Tem acento nesse e aí. E se escreve com esse, cê, agá. Depois tem também um pê e outro agá. Tem dois agás.
— E nenhum ipsilone? Nenhum dábliu? — ela perguntou como se estivesse exausta. E amarga. — Adoro ipsilones, dáblius e cás. Tão chique.
— D ‘accord — ele disse. — Mas não tem nenhum.
— Tá bom — ela riu sem vontade. Em seguida disse tchau, até mais, boa-noite, um beijo, e desligou.
Ele abriu a boca, mas antes de repetir as mesmas coisas ouviu o clique do fone sendo colocado no gancho do outro lado da cidade. O disco chegara novamente ao fim, mas antes que recomeçasse ele curvou-se e desligou o som. Em pé, ao lado da mesa, amarfanhou o papel amarelo e jogou-o no cinzeiro. Depois soprou as cinzas do rosto do rapaz. Algumas partículas caíram sobre a foto da mulher. Andou então até o pequeno corredor, curvou-se sobre a planta e com a brasa do cigarro fez um furo redondo na folha. Respirou fundo sem sentir cheiro algum. A sala continuava mergulhada naquela penumbra bordô, baça, moribunda, a almofada fosforescendo estranhamente esverdeada à luz azul de mercúrio. Ele fez um movimento em direção ao telefone. Chegou a avançar um pouco, como se fosse voltar. Mas não se moveu. Imóvel assim no meio da casa, o som desligado e nenhum outro ruído, era possível ouvir o vento soprando solto pelos telhados.
O dia que Júpiter encontrou Saturno
Foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Tão bonito que ela baixou os olhos, sem querer querendo que ele também a tivesse visto. Deram-lhe um copo de plástico com vodka, gelo e uma casquinha de limão. Ela triturou a casquinha entre os dentes, mexendo o gelo com a ponta do indicador, sem beber. Com a movimentação dos outros, levantando o tempo todo para dançar rocks barulhentos ou afundar nos quartos onde rolavam carreiras e baseados, devagarinho conquistou uma cadeira de junco junto a janela. A noite clara lá fora estendida sobre Henrique Schaumann, a avenida poncho & conga, riu sozinha. Ria sozinha quase o tempo todo, uma moça magra querendo controlar a própria loucura, discretamente infeliz. Molhou os lábios na vodka tomando coragem de olhar para ele, um moço queimado de sol e calças brancas com a barra descosturada. Baixou outra vez os olhos, embora morena também, e suspirou soltando os ombros, coluna amoldando-se ao junco da cadeira. Só porque era sábado e não ficaria, desta vez não, parada entre o som, a televisão e o livro, atenta ao telefone silencioso. Sorriu olhando em volta, muito bem, parabéns, aqui estamos.
Não que estivesse triste, só não sentia mais nada.
Levemente, para não chamar atenção de ninguém, girou o busto sobre a cintura, apoiando o cotovelo direito sobre o peitoril da janela. Debruçou o rosto na palma da mão, os cabelos lisos caíram sobre o rosto. Para afastá-los, ela levantou a cabeça, e então viu o céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Vista assim parecia não uma moça vivendo, mas pintada em aquarela, estatizada feito estivesse muito calma, e até estava, só não sentia mais nada, fazia tempo. Quem sabe porque não evidenciava nenhum risco parada assim, meio remota, o moço das calças brancas veio se aproximando sem que ela percebesse.
Parado ao lado dela, vistos de dentro, os dois pintados em aquarela - mas vistos de fora, das janelas dos carros procurando bares na avenida, sombras chinesas recortadas contra a luz vermelha.
E de repente o rock barulhento parou e a voz de John Lennon cantou 'every day, every way is getting better and better'. Na cabeça dela soaram cinco tiros. Os olhos subitamente endurecidos da moça voltaram-se para dentro, esbarrando nos olhos subitamente endurecidos dos moço. As memórias que cada um guardava, e eram tantas, transpareceram tão nitidamente nos olhos que ela imediatamente entendeu quando ele a tocou no ombro.
-Você gosta de estrelas?
-Gosto. Você também?
-Também. Você está olhando a lua?
-Quase cheia. Em Virgem.
-Amanhã faz conjunção com Júpiter.
-Com Saturno também.
-Isso é bom?
-Eu não sei. Deve ser.
-É sim. Bom encontrar você.
-Também acho.
(Silêncio)
-Você gosta de Júpiter?
-Gosto. Na verdade "desejaria viver em Júpiter onde as almas são puras e a transa é outra".
-Que é isso?
-Um poema de um menino que vai morrer.
-Como é que você sabe?
-Em fevereiro, ele vai se matar em fevereiro.
(Silêncio)
-Você tem um cigarro?
-Estou tentando parar de fumar.
-Eu também. Mas queria uma coisa nas mãos agora.
-Você tem uma coisa nas mãos agora.
-Eu?
-Eu.
(Silêncio)
-Como é que você sabe?
-O quê?
-Que o menino vai se matar.
-Sei de muitas coisas. Algumas nem aconteceram ainda.
-Eu não sei nada.
-Te ensino a saber, não a sentir. Não sinto nada, já faz tempo.
-Eu só sinto, mas não sei o que sinto. Quando sei, não compreendo.
-Ninguém compreende.
-Às vezes sim. Eu te ensino.
-Difícil, morri em dezembro. Com cinco tiros nas costas. Você também.
-Também, depois saí do corpo. Você já saiu do corpo?
(Silêncio)
-Você tomou alguma coisa?
-O quê?
-Cocaína, morfina, codeína, mescalina, heroína, estenamina, psilocibina, metedrina.
-Não tomei nada. Não tomo mais nada.
-Nem eu. Já tomei tudo.
-Tudo?
-Cogumelos têm parte com o diabo.
-O ópio aperfeiçoa o real.
-Agora quero ficar limpa. De corpo, de alma. Não quero sair do corpo.
(Silêncio)
-Acho que estou voltando. Usava saias coloridas, flores nos cabelos.
-Minha trança chegava até a cintura. As pulseiras cobriam os braços.
-Alguma coisa se perdeu.
-Onde fomos? Onde ficamos?
-Alguma coisa se encontrou.
-E aqueles guizos?
-E aquelas fitas?
-O sol já foi embora.
-A estrada escureceu.
-Mas navegamos.
-Sim. Onde está o Norte?
-Localiza o Cruzeiro do Sul. Depois caminha na direção oposta.
(Silêncio)
-Você é de Virgem?
-Sou. E você, de Capricórnio?
-Sou. Eu sabia.
-Eu sabia também.
-Combinamos: terra.
-Sim. Combinamos.
(Silêncio)
-Amanhã vou embora para Paris.
-Amanhã vou embora para Natal.
-Eu te mando um cartão de lá.
-Eu te mando um cartão de lá.
-No meu cartão vai ter uma pedra suspensa sobre o mar.
-No meu não vai ter pedra, só mar. E uma palmeira debruçada.
(Silêncio)
-Vou tomar chá de ayahuasca e ver você egípcia. Parada do meu lado, olhando de perfil.
-Vou tomar chá de datura e ver você tuaregue. Perdido no deserto, ofuscado pelo sol.
-Vamos nos ver?
-No teu chá. No meu chá.
(Silêncio)
-Quando a noite chegar cedo e a neve cobrir as ruas, ficarei o dia inteiro na cama pensando em dormir com você.
-Quando estiver muito quente, me dará uma moleza de balançar devagarinho na rede pensando em dormir com você.
-Vou te escrever carta e não te mandar.
-Vou tentar recompor teu rosto sem conseguir.
-Vou ver Júpiter e me lembrar de você.
-Vou ver Saturno e me lembrar de você.
-Daqui a vinte anos voltarão a se encontrar.
-O tempo não existe.
-O tempo existe, sim, e devora.
-Vou procurar teu cheiro no corpo de outra mulher. Sem encontrar, porque terei esquecido. Alfazema?
-Alecrim. Quando eu olhar a noite enorme do Equador, pensarei se tudo isso foi um encontro ou uma despedida.
-E que uma palavra ou um gesto, seu ou meu, seria suficiente para modificar nossos roteiros.
(Silêncio)
-Mas não seria natural.
-Natural é as pessoas se encontrarem e se perderem.
-Natural é encontrar. Natural é perder.
-Linhas paralelas se encontram no infinito.
-O infinito não acaba. O infinito é nunca.
-Ou sempre.
(Silêncio)
-Tudo isso é muito abstrato. Está tocando "Kiss, kiss, kiss". Por que você não me convida para dormirmos juntos.
-Você quer dormir comigo?
-Não.
-Porque não é preciso?
-Porque não é preciso.
(Silêncio)
-Me beija.
-Te beijo.
Foi a última pessoa que viu ao sair. Tão bonita que ele baixou os olhos, sem saber sabendo que ela também o tinha visto. Desceu pelo elevador, a chave do carro na mão. Rodou a chave entre os dedos, depois mordeu leve a ponta metálica, amarga. Os olhos fixos nos andares que passavam, sem prestar atenção nos outros que assoavam narizes ou pingavam colírios. Devagarinho, conquistou o espaço junto à porta. Os ruídos coados de festas e comandos da madrugada nos outros apartamentos, festas pelas frestas, riu sozinho. Ria sozinho quase sempre, um moço queimado de sol, com a barra branca das calças descosturadas, querendo controlar a própria loucura, discretamente infeliz.
Mordeu a unha junto com a chave, lembrando dela, uma moça magra de cabelos lisos junto à janela. Baixou outra vez os olhos, embora magro também. E suspirou soltando os ombros, pés inseguros comprimindo o piso instável do elevador. Só porque era sábado, porque estava indo embora, porque as malas restavam sem fazer e o telefone tocava sem parar. Sorriu olhando em volta.
Não que estivesse triste, só não compreendia o que estava sentindo.
Levemente, para não chamar a atenção de ninguém, apertou os dedos da mão direita na porta aberta do elevador e atravessou o saguão de lado, saindo para a rua. Apoiou-se no poste da esquina, o vento esvoaçando os cabelos, e para evitá-lo ele então levantou a cabeça e viu o céu. Um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Visto assim parecia não um moço vivendo, mas pintado num óleo de Gregório Gruber, tão nítido estava ressaltado contra o fundo da avenida, e assim estava, mas sem compreender, fazia tempo. Quem sabe porque não evidenciava nenhum risco, a moça debruçou-sena janela lá em cima e gritou alguma coisa que ele não chegou a ouvir. Parado longe dela, a moça visível apenas da cintura para cima parecia um fantoche de luva, manipulado por alguém escondido, o moço no poste agitando a cabeça, uma marionete de fios, manipulada por alguém escondido.
De repente um carro freou atrás dele, o rádio gritando "se Deus quiser, um dia acabo voando". Na cabeça dele soaram cinco tiros. De onde estava, não conseguiria ver os olhos da moça. De onde estava, a moça não conseguiria ver os olhos dele. Mas as memórias de cada um eram tantas que ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo da janela no exato instante em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás.
Fico tão cansada às vezes, e digo para mim mesma que está errado, que não é assim, que não é este o tempo, que não é este o lugar, que não é esta a vida. (…) então eu não sentia nada, podia fazer as coisas mais audaciosas sem sentir nada, bastava estar atenta como estes gerânios, você acha que um gerânio sente alguma coisa? Quero dizer, um gerânio está sempre tão ocupado em ser um gerânio e deve ter tanta certeza de ser um gerânio que não lhe sobra tempo para nenhuma outra dúvida…
Não vou perguntar por que você voltou, acho que nem mesmo você sabe, e se eu perguntasse você se sentiria obrigado a responder, e respondendo daria uma explicação que nem mesmo você sabe qual é. Não há explicação, compreende? Eu também não queria perguntar, pensei que só no silêncio fosse possível construir uma compreensão, mas não é, sei que não é, você também sabe, pelo menos por enquanto, talvez não se tenha ainda atingido o ponto em que o silêncio basta? É preciso encher o vazio de palavras, ainda que seja tudo incompreensão? Só vou perguntar por que você se foi, se sabia que haveria uma distância, e que na distância a gente perde ou esquece tudo aquilo que construiu junto. E esquece sabendo que está esquecendo.
Daquele tempo nem tão distante, daqueles dias que até hoje duram às vezes duas, às vezes duzentas horas, restou esta sensação de que, como eles, também me vou tombando rápido dentro da boca de um vulcão aberto sem fôlego nem tempo para repetir como numa justificativa, ou oração, ou mantra, enquanto caio sem salvação no fogo que é verdade, que si, que no, que nadie puede mismo vivir sin amor.
O segundo chegará nos próximos meses e será sim, ele, adivinhei, o Grande Descobridor, o tão sabido que nada terei a ensinar-lhe, e tão sabida eu mesma em todas as lições que já pensei que nada terei a aprender em si.
Que apóie nossos fatigados pés descalços ao fim de mais outras semanas de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediários atrasados.
(...) Se não gostar de ler, como vai gostar de escrever? Ou escreva então para destruir o texto, mas alimente-se. Fartamente. Depois vomite. Pra mim, e isso pode ser muito pessoal, escrever é enfiar um dedo na garganta. Depois, claro, você peneira essa gosma, amolda-a, transforma. Pode sair até uma flor. Mas o momento decisivo é o dedo na garganta (...).
Mergulho no cheiro que não defino, você me embala dentro dos seus braços e você me beija e você me aperta e você me aquieta repetindo que está tudo bem, tudo, tudo bem...
Tão estranho carregar uma vida inteira no corpo e ninguém suspeitar dos traumas, das quedas, dos medos, dos choros.
Chorei três horas, depois dormi dois dias. Parece incrível ainda estar vivo quando já não se acredita em mais nada. Olhar, quando já não se acredita no que se vê. E não sentir dor nem medo, porque atingiram seu limite. E não ter nada além deste amplo vazio que poderei preencher como quiser ou deixá-lo assim, sozinho em si mesmo, completo, total. Até a próxima morte, que qualquer nascimento pressagia.
De repente já estou no fim dos 20 e não tenho nada do que as pessoas costumam ter nessa idade. Tenho planos, claro (todo mundo tem). Mas objetivamente estou sem nada aqui à minha frente. O momento futuro é uma incógnita absoluta. Eu não posso pensar ‘não, daqui a um ano eu vou pro campo ou eu caso ou eu me formo ou eu vou à Europa’. Eu não sei. Fico esperando que pinte alguma coisa, naturalmente. E essa falta de ação me esmaga um pouco.
Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi, essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo. Para você, para mim mesmo. Como sempre tentei ser. Mas por enquanto, e por favor, tente entender o que tento dizer.
Não, não ofereço perigo algum: sou quieta como folha de outono esquecida entre as páginas de um livro, definida e clara como o jarro com a bacia de ágata no canto do quarto - se tomada com cuidado, verto água límpida sobre as mãos para que se possa refrescar o rosto, mas se tocada por dedos bruscos num segundo me estilhaço em cacos, me esfarelo em poeira dourada. Tenho pensado se não guardarei indisfarçáveis remendos das muitas quedas, dos muitos toques, embora sempre os tenha evitado aprendi que minhas delicadezas nem sempre são suficientes para despertar a suavidade alheia, e mesmo assim insisto - meus gestos e palavras são magrinhos como eu, e tão morenos que, esboçados à sombra, mal se destacam do escuro, quase imperceptível me movo, meus passos são inaudíveis feito pisasse sempre sobre tapetes, impressentida, mãos tão leves que uma carícia minha, se porventura a fizesse, seria mais branda que a brisa da tardezinha.
Mas desde que, há duas semanas, uma cigana desvendou as fracas linhas das palmas de minha mão, pouco sossego encontro até em meu próprio sossego: dois amores, ela apontou, um já passado, e com amargura localizei na memória aquele sôfrego estudante, e outro em breve por chegar. Desde então, me desconheço. Abreviaram-se-me as idas ao banheiro para molhar os pulsos e os lóbulos das orelhas, animando a circulação que se me estanca nas veias, por vezes olvido a torneira aberta e surpreendo-me a odiar minhas próprias tranças, as manchas roxas sob os olhos e tudo que me torna assim, fugaz. Mal posso conter um susto investigando o porte de cada homem que se aproxima, em cada esquina que dobro, em cada ônibus que tomo para ir e vir, sinto que busco prometido e me detesto por essa inquietação febril, pelo amor que desconheço e mal consigo supor, tão parca é minha vida de memórias ou medidas. Esforço-me por dar-lhe pinceladas tênues, não me atrevo aos óleos nem aos acrílicos, é nos guaches e sobretudo nas aquarelas que procuro o verde esmaecido de sua tez, mas por vezes alguma coisa se alvoroça e me surpreendo alucinada, incontrolável, a chafurdar em tintas fortes, berrantes cores primárias, formas toscas, símbolos sensuais, e é então que mergulho em banhos gelados no meio da noite para apaziguar a carne incompreensível, fremente qual Teresa d’Ávila, afogada entre lençóis, as palavras da cigana me embalando feito uma berceuse, imagino se não será o próprio Senhor este que se aproxima, e não conheço. Em cada junho, sei que não suportarei o próximo agosto, me debato elaborando aquela futura tarde gris para encontrá-lo - não aqui, entre torpezas, mas numa outra dimensão de luz maior, além de meu próprio corpo, irmão-burro aprisionado pelos instintos, num espaço discreto e contido como eu mesma venho sendo através destas quase três décadas que, álgida, sobrepujei. Sobrevivo a cada manhã quando, cruzando as portas e corredores que me conduzem às ruas intermináveis, imagino sempre que sou invisível para cada um dos que passam. Ninguém suspeita de meu segredo, caminho severa pelas calçadas, olhos baixos para que minha sede não transpareça: ah sou tão morena e magrinha que ninguém me adivinha assim como tenho andado - castamente cinzelada no topo deste morro onde os ventos não cessam jamais de uivar, tendo entre as mãos, como quem segura lírios maduros dos campos, uma espera tão reluzente que já é certeza.
Aquele um vai entrar um dia talvez por essa mesma porta, sem avisar. Diferente dessa gente toda vestida de preto, com cabelo arrepiadinho. Se quiser eu piro, e imagino ele de capa de gabardine, chapéu molhado, barba de dois dias, cigarro no canto da boca, bem noir. Mas isso é filme, ele não. Ele é de um jeito que ainda não sei, porque nem vi. Vai olhar direto para mim. Ele vai sentar na minha mesa, me olhar no olho, pegar na minha mão, encostar seu joelho quente na minha coxa fria e dizer: vem comigo. é por ele que eu venho aqui, boy, quase toda noite. Não por você, por outros como você. Pra ele, me guardo. Ria de mim, mas estou aqui parada, bêbada, pateta e ridícula, só porque no meio desse lixo todo procuro o verdadeiro amor.