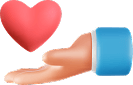Rafael Pelvini
“você lembra o que queria ser quando crescesse?”, “escritor?”, “não”. “Você queria ser astronauta”.
“Somos todos astronautas, filho. Cosmonautas. Simesmonautas. Orbitando em nós, porque o mundo é a órbita do mundo, a verdade é a busca pela verdade e o âmago das coisas não existe; mas, como todo astronauta, exploramos. A gente não sabe o que está lá em cima atrás das estrelas, mas por que não perseguir o desconhecido? Essas coisas estão dentro da gente, também. Neste sentido, você é o mais autêntico simesmonauta que conheço”.
Eu nunca mais ouvi meu pai falar tanto quanto naquela tarde.
Inventei que precisava comprar filtros e saí pela rua como um embriagado a buscar os filhos num abrigo, mas a barriga tremulava café e a boca necessitava mais um trago. Passei pelo beco, esperando encontrar uma caçamba de entulhos, mas a rua estava limpa, vazia. A casa velha da rua de trás, intacta. Me ofendendo por estar tão viva, também acolhera em seu quintal de mato alto uma ninhada de gatos de olhos verdes acusadores e ferinos, olhos que me encararam. O silêncio deles, eu de chinelos e meia, a rua toda parada e a velha lá em cima, vigiada por um homem de chifres e cara de boi. Tudo funcionava como a suspensão do respirar de um mundo. Estava no ar e crescia em mim, percebi, quando os gatos fecharam os olhos e se ajuntaram para descansar – e uma mariposa passou voando sobre eles e sumiu no mato – percebi: de nós todos, eu era – eu era –, eu era; eu era a mais irrefletida das criaturas.
Entendo tanto das tristezas que, quando a felicidade vem, vem com susto. Eu desaprendi muito cedo a plenitude alegre, e tudo bem: gosto do medo. Não porque me protege a alma das grandes besteiras, eu tenho um coletivo de babaquices feitas que denotam uma vida de coragens nem tão estúpidas; mas porque o medo é a mais autêntica forma de vida que eu conheço.